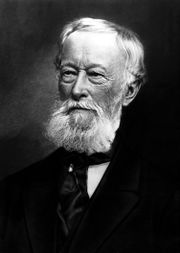Mecanismos estruturais da revolução industrial
Baseado num curso de Michel Oris[1][2]
Estruturas agrárias e sociedade rural: análise do campesinato europeu pré-industrial ● O Regime Demográfico do Antigo Regime: Homeostasia ● Evolução das Estruturas Socioeconómicas no Século XVIII: Do Antigo Regime à Modernidade ● Origens e causas da revolução industrial inglesa ● Mecanismos estruturais da revolução industrial ● A difusão da Revolução Industrial na Europa continental ● A Revolução Industrial para além da Europa: os Estados Unidos e o Japão ● Os custos sociais da Revolução Industrial ● Análise Histórica das Fases Cíclicas da Primeira Globalização ● Dinâmica dos Mercados Nacionais e a Globalização do Comércio de Produtos ● A Formação dos Sistemas Migratórios Globais ● Dinâmicas e Impactos da Globalização dos Mercados Monetários : O Papel Central da Grã-Bretanha e da França ● A Transformação das Estruturas e Relações Sociais durante a Revolução Industrial ● As origens do Terceiro Mundo e o impacto da colonização ● Fracassos e estrangulamentos no Terceiro Mundo ● Mutação dos Métodos de Trabalho: Evolução dos Relatórios de Produção do Final do Século XIX ao Meio do Século XX ● A Idade de Ouro da Economia Ocidental: Os Trinta Anos Gloriosos (1945-1973) ● A Economia Mundial em Mudança: 1973-2007 ● Os Desafios do Estado Providência ● Em torno da colonização: medos e esperanças de desenvolvimento ● Tempo de rupturas: desafios e oportunidades na economia internacional ● Globalização e modos de desenvolvimento no "terceiro mundo"
Este curso tem como objetivo fornecer uma análise detalhada e estruturada dos mecanismos estruturais que permitiram o surgimento da Revolução Industrial, com início no final do século XVIII. Analisaremos o desenvolvimento inicial da indústria, concentrando-nos na forma como os modestos avanços tecnológicos e o investimento inicial acessível lançaram as bases para a transformação da sociedade. Começaremos com uma análise aprofundada das pequenas empresas industriais em Inglaterra, salientando como estas beneficiaram de um baixo custo de entrada, facilitando o aparecimento de uma nova classe de empresários. Examinaremos as taxas de lucro variáveis, mas frequentemente elevadas, destas primeiras empresas e o seu papel na promoção do reinvestimento e da inovação contínuos. Em seguida, exploraremos a evolução das infra-estruturas de transportes e o seu impacto na dimensão e no âmbito das empresas, desde o isolamento protetor dos mercados locais até ao aumento da concorrência provocado pela redução dos custos de transporte. Será dada especial atenção às consequências sociais da industrialização, incluindo as condições de trabalho precárias, a utilização de mão de obra feminina e infantil e a mobilidade social resultante da industrialização. Um exame dos padrões de desenvolvimento industrial e da sua disseminação pela Europa completará a nossa análise, permitindo-nos compreender a influência da Revolução Industrial na economia global. Em suma, o objetivo deste curso é examinar as várias facetas da Revolução Industrial de uma forma descritiva e metódica, destacando as dinâmicas económicas, tecnológicas, sociais e humanas que marcaram este período fundamental.
Baixos custos de investimento[modifier | modifier le wikicode]
O início da Primeira Revolução Industrial, que teve lugar na segunda metade do século XVIII, começou com um nível relativamente limitado de tecnologia e uma baixa intensidade de capital em comparação com o que se tornou mais tarde. Inicialmente, as empresas eram frequentemente pequenas e as tecnologias, embora inovadoras para a época, não exigiam investimentos tão avultados como os necessários para as fábricas do final da era vitoriana. As indústrias têxteis, por exemplo, foram das primeiras a mecanizar-se, mas as primeiras máquinas, como a máquina de fiar ou o tear elétrico, podiam ser utilizadas em pequenas oficinas ou mesmo em casa (como era o caso do "putting-out" ou "sistema doméstico"). A máquina a vapor de James Watt, embora constituísse um avanço significativo, foi inicialmente adoptada a uma escala relativamente modesta antes de se tornar a força motriz das grandes fábricas e dos transportes. Isto deveu-se em parte ao facto de os sistemas de produção estarem ainda em transição. A produção ainda era frequentemente uma atividade de pequena escala e, embora a utilização de máquinas permitisse um aumento da produção, não exigia inicialmente as enormes instalações que associamos à revolução industrial posterior. Além disso, a primeira fase da Revolução Industrial caracterizou-se por inovações incrementais, que permitiram aumentos graduais da produtividade sem exigir grandes investimentos de capital. As empresas podiam frequentemente autofinanciar o seu crescimento ou apoiar-se em redes de financiamento familiares ou locais, sem necessidade de recorrer a mercados financeiros desenvolvidos ou a empréstimos em grande escala. No entanto, à medida que a revolução avançava, a complexidade e o custo da maquinaria aumentavam, assim como a dimensão das unidades industriais. Isto levou a uma intensificação da necessidade de capital, ao desenvolvimento de instituições financeiras específicas e ao aparecimento de práticas como a angariação de capital através de acções ou obrigações para financiar projectos industriais de maior dimensão.
A capacidade de autofinanciamento no final do século XVIII reflectia as condições económicas únicas da época. O custo relativamente baixo do investimento inicial nas primeiras fábricas permitiu que indivíduos das classes artesanal ou pequeno-burguesa se tornassem empresários industriais. Estes empresários conseguiam frequentemente obter o capital necessário sem recorrer a grandes empréstimos ou a investimentos externos significativos. O baixo custo da tecnologia da época, que se baseava principalmente na madeira e no metal simples, tornava os investimentos iniciais relativamente acessíveis. Além disso, as competências necessárias para construir e operar as primeiras máquinas provinham muitas vezes de ofícios tradicionais. Consequentemente, embora fosse necessária mão de obra especializada, esta não exigia o nível de formação que as tecnologias posteriores exigiram. Isto significa que os custos de mão de obra permaneceram relativamente baixos, especialmente quando comparados com os níveis salariais e de competências necessários para operar as tecnologias industriais avançadas de meados do século XX. Esta situação contrastava fortemente com a dos países do Terceiro Mundo em meados do século XX, onde a introdução de tecnologias industriais exigia um nível muito mais elevado de capital e de competências, fora do alcance da maioria dos trabalhadores locais e mesmo dos empresários locais sem assistência externa. O investimento necessário para iniciar uma atividade industrial nestes países em desenvolvimento era frequentemente tão elevado que só podia ser coberto por financiamento estatal, empréstimos internacionais ou investimento direto estrangeiro. O sucesso inicial dos empresários durante a Revolução Industrial Britânica foi, por conseguinte, facilitado por esta combinação de baixos custos de entrada e de competências artesanais adaptadas, que criaram um ambiente propício à inovação e ao crescimento industrial. Este facto levou à formação de uma nova classe social de industriais, que desempenhou um papel de liderança na promoção da industrialização.
Nas fases iniciais da Revolução Industrial, as necessidades de instalações para as fábricas eram relativamente modestas. Os edifícios existentes, como celeiros ou barracões, podiam ser facilmente convertidos em espaços de produção sem exigir grandes investimentos em construção ou equipamento. Esta situação contrasta com as instalações industriais posteriores, que eram frequentemente grandes fábricas especialmente concebidas para acomodar linhas de produção complexas e grandes equipas de trabalhadores. O capital circulante, ou seja, os fundos necessários para cobrir as despesas correntes, como as matérias-primas, os salários e os custos de funcionamento, era frequentemente mais elevado do que o investimento em capital fixo (máquinas e instalações). As empresas podiam recorrer a empréstimos bancários para financiar estas despesas de funcionamento. Na altura, os bancos estavam geralmente dispostos a conceder crédito com base na propriedade de matérias-primas, produtos semi-acabados ou acabados, que podiam ser utilizados como garantia. O sistema de crédito já estava bastante desenvolvido em Inglaterra nesta altura, com instituições financeiras estabelecidas capazes de fornecer o capital de exploração necessário aos empresários industriais. Além disso, as condições de pagamento na cadeia de abastecimento - por exemplo, a compra de matérias-primas a crédito e o pagamento aos fornecedores após a venda do produto acabado - também ajudavam a financiar o fundo de maneio. É importante notar que o acesso ao crédito desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da indústria. Permitiu às empresas expandir rapidamente a produção e tirar partido das oportunidades de mercado sem terem de acumular grandes quantidades de capital a montante. Isto facilitou o crescimento económico rápido e sustentado que se tornou caraterístico do período industrial.
O reinvestimento dos lucros gerados pela Revolução Industrial foi uma das forças motrizes da sua expansão para além das fronteiras britânicas. Estes lucros, muitas vezes substanciais devido ao aumento da eficiência e da produtividade resultante das novas tecnologias e da expansão dos mercados, foram afectados a diversos fins. Por um lado, os industriais injectaram uma parte desses montantes na inovação tecnológica, na aquisição de novas máquinas e no aperfeiçoamento dos processos de produção. Isto levou a uma espiral virtuosa de melhoria contínua, em que cada avanço gerava mais lucros para reinvestir. Ao mesmo tempo, a procura de novos mercados e de fontes de matérias-primas mais baratas incentivou as empresas britânicas a expandirem-se internacionalmente. Este expansionismo assumiu frequentemente a forma de investimento nas colónias ou noutras regiões, onde estabeleceram indústrias ou financiaram projectos industriais, transplantando assim práticas e capitais britânicos. As infra-estruturas, essenciais à industrialização, também beneficiaram destes lucros. Redes ferroviárias, canais e portos foram desenvolvidos ou melhorados, não só no Reino Unido mas também no estrangeiro, tornando o comércio e a produção industrial mais eficientes. Para além destes investimentos directos, a influência colonial britânica serviu de veículo para a difusão da tecnologia e dos métodos industriais. Criou-se assim um ecossistema favorável à expansão da industrialização nas colónias, que, por sua vez, forneceram as matérias-primas essenciais para abastecer as fábricas britânicas. No domínio do comércio internacional, os excedentes de capital permitiram às empresas britânicas aumentar a sua presença global, exportando bens manufacturados em grandes quantidades e importando os recursos necessários para os produzir. Por último, a mobilidade de engenheiros, empresários e trabalhadores qualificados, frequentemente financiada pelos lucros da indústria, facilitou o intercâmbio de competências e de know-how entre as nações. Estas transferências de tecnologia desempenharam um papel fundamental na generalização das práticas industriais em todo o mundo. Todos estes factores se conjugaram para fazer da Revolução Industrial um fenómeno global, transformando não só as economias nacionais, mas também as relações internacionais e a estrutura económica mundial.
Lucros elevados[modifier | modifier le wikicode]
As elevadas taxas de lucro registadas durante a Primeira Revolução Industrial, frequentemente entre 20% e 30% consoante o sector, foram decisivas para a acumulação de capital e o crescimento económico da época. Estas elevadas margens de lucro permitiram às empresas reinvestir e manter a expansão industrial, possibilitando um crescimento sustentado e o desenvolvimento de infra-estruturas industriais cada vez mais sofisticadas. Quando comparamos estas taxas de lucro com as da década de 1950, que caíram para cerca de 10%, e ainda mais baixas na década de 1970, para cerca de 5%, é evidente que os primeiros empresários industriais tinham uma vantagem considerável. Esta vantagem permitiu-lhes reinvestir somas significativas nas suas empresas, explorar novas oportunidades industriais e inovar constantemente. Este espírito de acumulação de capital e de reinvestimento foi um motor essencial da industrialização. Este espírito de acumulação de capital e de reinvestimento foi o principal motor da industrialização, que se tornou possível não só pelos benefícios económicos, mas também por um certo ethos que prevaleceu em Inglaterra durante este período. A ideia de que o dinheiro deve ser utilizado de forma produtiva, para estimular o emprego e a criação de riqueza, foi um princípio orientador que moldou a sociedade britânica. O capital inicial relativamente modesto que podia ser mobilizado por indivíduos ou pequenos grupos de investidores permitiu uma primeira vaga de atividade industrial. No entanto, foram os lucros destes primeiros empreendimentos que alimentaram investimentos mais substanciais e conduziram a uma rápida expansão da capacidade industrial e do desenvolvimento económico como um todo. Este círculo virtuoso de investimento e inovação acelerou o processo de industrialização, conduzindo a avanços tecnológicos, ao aumento da produção e, em última análise, a uma profunda transformação da sociedade e da economia.
Tamanho da empresa[modifier | modifier le wikicode]
A ausência de um tamanho ótimo ou mínimo[modifier | modifier le wikicode]
A comparação da dinâmica empresarial entre o período da Revolução Industrial e os dias de hoje põe em evidência a evolução das economias e dos contextos em que as empresas operam. Durante a Revolução Industrial, o baixo custo de entrada no sector industrial permitiu o aparecimento de muitas pequenas empresas. O baixo custo das tecnologias da época, que eram principalmente mecânicas e muitas vezes alimentadas por água ou vapor, combinado com uma abundância de mão de obra barata, criou um ambiente em que mesmo as empresas com pouco capital podiam arrancar e prosperar. A procura crescente, impulsionada pela urbanização e pelo crescimento demográfico, bem como a ausência de regulamentação rigorosa, também favoreceram o aparecimento e o crescimento destas pequenas empresas. Por outro lado, no mundo atual, a dimensão de uma empresa pode ser um fator determinante na sua capacidade de resistência às crises. Os custos fixos elevados, as tecnologias avançadas, as normas regulamentares rigorosas e a intensa concorrência internacional exigem investimentos substanciais e uma capacidade de adaptação que as pequenas empresas podem ter dificuldade em utilizar. A mão de obra, que se tornou mais cara em resultado do aumento do nível de vida e da regulamentação social, representa também um custo muito mais significativo para as empresas actuais. Consequentemente, a tendência atual é para a concentração empresarial, em que as empresas de maior dimensão podem beneficiar de economias de escala, de um acesso mais fácil ao financiamento e de uma capacidade de influenciar o mercado e de resistir a períodos de recessão económica. No entanto, é importante notar que o ecossistema empresarial atual é também muito dinâmico, com start-ups tecnológicas e empresas inovadoras que, apesar da sua dimensão por vezes modesta, podem perturbar mercados inteiros graças a inovações radicais e à agilidade da sua estrutura.
O exemplo da Krupp[modifier | modifier le wikicode]
O caso da Krupp é uma ilustração perfeita da transição que se registou no panorama industrial desde a Revolução Industrial. Fundada em 1811, a Krupp começou por ser uma pequena empresa e cresceu até se tornar um conglomerado industrial internacional, simbolizando o potencial de crescimento que caracterizou esta era de transformação económica. No início da Revolução Industrial, a flexibilidade das pequenas empresas era uma vantagem num mercado em rápida mutação, onde as inovações técnicas podiam ser rapidamente adoptadas e implementadas. Além disso, o quadro regulamentar, muitas vezes pouco rigoroso, permitia que as pequenas entidades prosperassem sem os encargos administrativos e financeiros que podem acompanhar as grandes empresas nas economias modernas. No entanto, à medida que a era industrial avançava, factores como o desenvolvimento dos sistemas de transporte (ferroviário, marítimo, rodoviário) e a globalização do comércio começaram a favorecer as empresas capazes de produzir em grande escala e de distribuir os seus produtos mais amplamente. Estas empresas, como a Krupp, puderam investir em infra-estruturas pesadas, adotar tecnologias de ponta, alargar o seu controlo sobre as cadeias de abastecimento e aceder aos mercados internacionais, o que lhes conferiu uma vantagem competitiva em relação às empresas mais pequenas. A ascensão da Krupp reflecte esta dinâmica. A empresa foi capaz de acompanhar os tempos, evoluindo de uma fundição de ferro para uma multinacional produtora de aço e armamento, tirando partido das guerras, da procura crescente de aço para a construção e da industrialização geral, bem como das inovações tecnológicas. Neste contexto, as pequenas empresas enfrentaram grandes desafios. Sem acesso ao mesmo nível de recursos, tiveram dificuldade em competir em termos de preços, eficiência e alcance de mercado. Muitas foram absorvidas por entidades maiores ou tiveram de se especializar em nichos para sobreviver. A capacidade de resistir às crises tornou-se um atributo associado à dimensão e as grandes empresas, como a Krupp, estavam mais bem equipadas para enfrentar a volatilidade económica, as guerras, as crises financeiras e as mudanças políticas. A sua dimensão permitia-lhes absorver os choques, diversificar os riscos e planear a longo prazo, uma capacidade menos acessível às empresas mais pequenas. A trajetória da Krupp insere-se, portanto, na lógica mais ampla do desenvolvimento industrial e económico, em que as estruturas empresariais tiveram de se adaptar às novas realidades de um mundo em rápida mutação.
Custos de transporte[modifier | modifier le wikicode]
Custos elevados: uma vantagem nas primeiras fases da industrialização[modifier | modifier le wikicode]
Antes da expansão dos barcos a vapor e do desenvolvimento dos caminhos-de-ferro, o elevado custo dos transportes tinha um impacto significativo na estrutura industrial e comercial. As fábricas tendiam a produzir para os mercados locais, uma vez que o transporte de mercadorias a longa distância era muitas vezes demasiado dispendioso. Neste período, assistiu-se à proliferação de pequenas fábricas dispersas, que satisfaziam as necessidades imediatas da população local, tendo cada região desenvolvido frequentemente as suas próprias especialidades com base nos recursos e competências disponíveis. Para minimizar os custos de transporte, a produção industrial era efectuada perto das fontes de matérias-primas, como o carvão e o minério de ferro. Esta limitação também estimulou investimentos significativos em infra-estruturas de transporte, como canais e caminhos-de-ferro, e incentivou a melhoria das estradas existentes. Quando os caminhos-de-ferro se tornaram comuns e os barcos a vapor se generalizaram, a dinâmica mudou radicalmente. Os transportes tornaram-se mais baratos e mais rápidos, permitindo que as fábricas maiores e centralizadas produzissem em massa e vendessem os seus produtos em mercados mais vastos, beneficiando de economias de escala. Esta situação começou a excluir as pequenas fábricas locais que não conseguiam competir com a produção em grande escala e a distribuição generalizada das grandes empresas, transformando profundamente a economia industrial.
Os elevados custos de transporte no início da Revolução Industrial criaram efetivamente uma forma de protecionismo natural, protegendo as indústrias locais nascentes da concorrência de empresas maiores e mais estabelecidas. Estes custos de transporte actuavam como barreiras não oficiais, isolando os mercados e permitindo que as empresas se concentrassem em satisfazer a procura na sua vizinhança imediata. Nessa altura, a concorrência era essencialmente local; uma empresa só precisava de competir dentro de uma área limitada, onde os custos de transporte proibitivos funcionavam como uma barreira à concorrência distante. Nas suas fases iniciais, a Revolução Industrial foi fortemente marcada pelo seu carácter local e regional. Em Inglaterra, por exemplo, foi a região de Lancashire, em torno de Manchester, que foi o berço de muitas inovações e desenvolvimentos industriais. Do mesmo modo, em França, as regiões do Norte e da Alsácia tornaram-se centros industriais fundamentais, tal como a Catalunha em Espanha e a Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Estas regiões beneficiaram das suas próprias condições favoráveis à industrialização, tais como o acesso às matérias-primas, às competências artesanais e ao capital. À escala internacional, estes mesmos custos de transporte desempenharam um papel crucial na proteção das indústrias europeias continentais contra a supremacia industrial britânica. A Inglaterra, pioneira da industrialização com um avanço técnico significativo, não podia facilmente inundar o resto da Europa com os seus produtos devido aos elevados custos de transporte. Este facto proporcionou uma trégua às indústrias do continente, permitindo-lhes desenvolver-se e progredir tecnologicamente sem serem submergidas pela concorrência britânica. Neste contexto, os elevados custos de transporte tiveram um impacto paradoxal: restringiram o comércio e a difusão da inovação, mas, ao mesmo tempo, incentivaram a diversificação industrial e o desenvolvimento de capacidades locais. Foi isto que permitiu a muitas regiões da Europa e da América do Norte lançar as bases do seu próprio desenvolvimento industrial antes da era do comércio globalizado e da grande distribuição.
O desenvolvimento das infra-estruturas de transportes, nomeadamente dos caminhos-de-ferro, na segunda metade do século XIX, reduziu consideravelmente os custos e os tempos de deslocação. O comboio, em particular, revolucionou o transporte de mercadorias e de pessoas, tornando possível o comércio a longas distâncias e a custos muito inferiores aos dos métodos tradicionais, como o transporte por carroça, a cavalo ou por via navegável. Esta redução dos custos de transporte teve um grande impacto na organização industrial. As indústrias mais pequenas, que tinham prosperado num contexto de custos de transporte elevados e estavam, por isso, protegidas da concorrência externa, começaram a sentir a pressão de empresas maiores, tecnologicamente avançadas e capazes de produzir em massa. Estas grandes empresas podiam agora alargar o seu alcance comercial, distribuindo os seus produtos por mercados muito mais vastos. Com o caminho de ferro, as grandes empresas podiam não só chegar a mercados distantes, mas também beneficiar de economias de escala, centralizando a sua produção em fábricas maiores, o que reduzia os seus custos unitários. Isto significa que podiam oferecer os seus produtos a preços com os quais as pequenas indústrias locais, com as suas estruturas de custos mais elevadas, não podiam competir. Foi neste contexto que muitas pequenas empresas foram obrigadas a encerrar ou a transformar-se, enquanto regiões industriais anteriormente isoladas foram integradas numa economia nacional e mesmo internacional. A paisagem industrial foi remodelada, favorecendo as zonas com acesso privilegiado às novas infra-estruturas de transporte e lançando as bases da globalização dos mercados que conhecemos hoje.
Condições sociais em matéria de emprego[modifier | modifier le wikicode]
A Revolução Industrial provocou profundas alterações na estrutura social, nomeadamente através da deslocação de pessoas do campo para as cidades. Este movimento maciço deveu-se em grande parte aos cercamentos em Inglaterra, por exemplo, que expulsaram muitos camponeses das suas terras tradicionais, bem como às transformações agrícolas que reduziram a necessidade de mão de obra. Os camponeses sem terra e os que tinham perdido o seu sustento devido à introdução de novos métodos agrícolas ou à mecanização viram-se à procura de trabalho nas cidades, onde as fábricas industriais emergentes necessitavam de mão de obra. Esta migração não era motivada pela atração da melhoria social, mas pela necessidade. Os empregos na indústria ofereciam frequentemente salários baixos e condições de trabalho difíceis. A ausência de legislação social na época significava que os trabalhadores tinham muito pouca proteção: trabalhavam longas horas em condições perigosas e insalubres, sem segurança no emprego, sem seguro contra acidentes de trabalho e sem direito a reforma. Os historiadores falam frequentemente de "fluidez social negativa" durante este período para descrever o fenómeno em que os indivíduos, longe de subirem na escala social, eram atraídos para um ambiente de trabalho precário e frequentemente explorador. Apesar disso, para muitos, o trabalho fabril representava a única oportunidade de ganhar a vida, mesmo que isso significasse suportar condições difíceis. Foi apenas gradualmente, muitas vezes em resultado de crises, lutas sindicais e pressões políticas, que os governos começaram a introduzir leis para proteger os trabalhadores. As primeiras leis sobre o trabalho infantil, as condições de trabalho, o horário de trabalho e a segurança lançaram as bases para os sistemas de proteção social que conhecemos hoje. Mas estas mudanças levaram tempo e muitos sofreram antes de estas protecções serem introduzidas.
As condições de trabalho durante a Revolução Industrial reflectiam a dinâmica do mercado da época, em que um excesso de oferta de mão de obra permitia aos empregadores cobrar salários muito baixos. As mulheres e as crianças eram frequentemente empregadas porque constituíam uma mão de obra ainda mais barata do que a dos homens adultos e porque eram geralmente menos propensas a sindicalizar-se e a exigir melhores condições de trabalho. Estes grupos recebiam frequentemente uma fração do salário dos homens adultos, o que aumentava ainda mais as margens de lucro das empresas. Neste contexto, os salários pagos aos trabalhadores não ultrapassavam muitas vezes o mínimo de subsistência, calculado em função do estritamente necessário para a sobrevivência do trabalhador e da sua família. Esta abordagem, por vezes descrita como um "salário de subsistência", deixava pouca margem para poupanças pessoais ou para a melhoria do nível de vida. Uma consequência direta da falta de regulamentação e de proteção social foi um sistema em que os salários mais baixos podiam ser utilizados como alavanca para aumentar as margens de lucro. Os empresários da Revolução Industrial, frequentemente elogiados pelo seu engenho e espírito empresarial, também beneficiaram de um sistema em que os custos de produção podiam ser reduzidos em detrimento do bem-estar dos trabalhadores. O facto de os lucros não terem de ser partilhados significava que os proprietários das fábricas podiam reinvestir mais dos seus lucros na expansão das suas empresas, na compra de novas máquinas e na melhoria dos processos de produção. Isto contribuiu, sem dúvida, para a aceleração da industrialização e para o crescimento económico global, mas este crescimento teve um custo social elevado. Foram necessárias décadas de lutas dos trabalhadores, de ativismo social e de reformas legislativas para começar a criar um ambiente de trabalho mais equilibrado e justo, em que os trabalhadores gozassem de proteção e de uma parte mais justa dos frutos do crescimento económico.
A industrialização, especialmente nas suas fases iniciais, beneficiou significativamente da participação de mulheres e crianças na força de trabalho, muitas vezes em condições que hoje seriam consideradas inaceitáveis. A indústria têxtil, por exemplo, recrutou massivamente mulheres e crianças, em parte porque as máquinas recentemente inventadas exigiam menos força física do que os anteriores métodos de produção manual. A destreza e a precisão tornaram-se mais importantes do que a força bruta, e estas qualidades eram frequentemente associadas às mulheres trabalhadoras. Além disso, os empregadores podiam pagar menos às mulheres e às crianças do que aos homens, aumentando assim os seus lucros. No contexto da época, o trabalho infantil não estava regulamentado no início da Revolução Industrial. As crianças eram frequentemente empregues em tarefas perigosas ou em espaços confinados onde os adultos não podiam trabalhar facilmente. Os seus salários eram irrisórios quando comparados com os dos homens adultos, chegando muitas vezes a ser dez vezes inferiores. Este facto reforçava a posição vantajosa dos empregadores: a abundância de mão de obra disponível fazia baixar os salários em geral e aumentava a concorrência pelos empregos, contribuindo para a precariedade da situação dos trabalhadores. As mulheres recebiam cerca de um terço do que os homens recebiam pelo mesmo trabalho, uma disparidade que reflectia as normas sociais da época, em que o trabalho das mulheres era frequentemente considerado menos valioso. Esta exploração do trabalho feminino e infantil é atualmente considerada como um dos períodos mais negros da história ocidental e levou ao aparecimento das primeiras leis sobre o trabalho infantil e a uma análise mais crítica das condições de trabalho nas indústrias nascentes. Assim, embora a industrialização tenha trazido grandes avanços económicos e técnicos, também evidenciou a necessidade de regulamentação para proteger os trabalhadores mais vulneráveis da exploração. Os movimentos sociais e as reformas que se seguiram foram motivados pelo reconhecimento de que o progresso económico não deve ser feito à custa da dignidade e da saúde das pessoas.
A diversidade de práticas de gestão entre os empregadores na época da Revolução Industrial reflectia diferentes atitudes sociais e económicas. Por um lado, alguns patrões, motivados principalmente pela maximização dos lucros, optaram por empregar mulheres e crianças, que podiam receber salários muito inferiores aos dos homens. Esta estratégia de redução de custos permitia-lhes oferecer preços mais competitivos e obter lucros mais elevados. As condições de trabalho nestas empresas eram frequentemente muito duras e o bem-estar dos trabalhadores não era geralmente uma prioridade. Por outro lado, havia patrões que adoptavam uma abordagem mais paternalista. Podiam optar por empregar apenas homens, em parte devido à crença generalizada de que o papel do homem era o de sustentar a família. Estes patrões podiam considerar-se responsáveis pelo bem-estar dos seus empregados, muitas vezes fornecendo-lhes alojamento, escolas ou serviços médicos. Esta abordagem, embora mais humana, era também uma forma de garantir uma mão de obra estável e dedicada. Nas empresas onde prevalece esta mentalidade paternalista, pode haver um sentimento de obrigação moral ou de responsabilidade social para com os trabalhadores. Estes patrões poderiam acreditar que cuidar dos seus trabalhadores não só era bom para o negócio, mantendo uma força de trabalho produtiva e leal, mas também um dever para com a sociedade. Estas duas abordagens reflectem as atitudes complexas e muitas vezes contraditórias da época em relação ao trabalho e à sociedade. Embora as condições de trabalho das mulheres e das crianças nas fábricas fossem frequentemente difíceis e perigosas, as primeiras leis laborais, como a Factory Act de 1833 na Grã-Bretanha, começaram a impor limites à exploração dos trabalhadores mais vulneráveis. Estas reformas foram o início de um longo processo de melhoria das condições de trabalho que continuaria muito depois do fim da Revolução Industrial.
A simplicidade da técnica[modifier | modifier le wikicode]
A adaptação das competências dos trabalhadores durante a primeira fase da Revolução Industrial foi relativamente fácil por várias razões. Em primeiro lugar, as primeiras tecnologias industriais não eram radicalmente diferentes das utilizadas na proto-indústria ou nas oficinas de artesanato. Máquinas como o tear mecânico eram mais rápidas e mais eficientes do que as suas antecessoras manuais, mas os princípios básicos de funcionamento eram semelhantes. Isto significa que os camponeses e os artesãos que já possuíam competências no trabalho manual podiam ser reconvertidos para a indústria nascente com pouca dificuldade. Além disso, a conceção relativamente simples das primeiras máquinas industriais permitia que estas fossem reproduzidas por aqueles que desejavam entrar na indústria ou aumentar a sua produção, sem necessidade de uma transferência complexa de conhecimentos. O que, na altura, poderia ser visto como uma falta de proteção da propriedade intelectual, na verdade encorajava a rápida disseminação da inovação tecnológica e o crescimento de novas indústrias. No entanto, este fácil acesso às competências industriais iniciais teve implicações sociais e educativas. Em 1830, numa Inglaterra em grande parte analfabeta, a educação ainda não era considerada essencial para a maioria da população ativa. A falta de educação contribuiu para que a mão de obra fosse considerada mais fácil de gerir e menos suscetível de questionar a autoridade ou de exigir melhores salários ou condições de trabalho. Alguns industriais e lobbies empresariais viam a educação em massa como uma ameaça potencial a este estado de coisas, uma vez que uma população mais instruída poderia tornar-se mais consciente dos seus direitos e mais exigente do ponto de vista social e económico. Só muito mais tarde, com o aparecimento de tecnologias mais complexas, como a máquina a vapor e a engenharia de precisão, é que a formação da mão de obra se tornou mais necessária e mais especializada, o que levou a uma revalorização do ensino técnico. Este facto marcou também o início de uma mudança de atitude em relação à educação dos trabalhadores, uma vez que as competências de literacia e numeracia se tornaram cada vez mais necessárias para operar e manter a complexa maquinaria da era industrial avançada. A introdução do ensino primário obrigatório em 1880, em Inglaterra, constituiu um ponto de viragem, reconhecendo finalmente a importância da educação para o desenvolvimento individual e o crescimento económico. Marcou o início de uma tomada de consciência de que a educação podia e devia desempenhar um papel na melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras e na promoção da mobilidade social.
A Revolução Industrial marcou uma transformação radical na estrutura socioeconómica da Europa e não só. Após séculos em que a maioria da população vivia em sociedades agrárias, dependentes dos ciclos naturais e da produção agrícola, este novo paradigma introduziu uma mudança drástica. O progresso tecnológico, a ascensão do espírito empresarial, o acesso a novas formas de capital e a exploração de recursos energéticos, como o carvão e, mais tarde, o petróleo, foram as forças motrizes desta mudança. A máquina a vapor, a inovação nos processos de fabrico, como a produção de aço, a automatização da produção têxtil e o advento dos caminhos-de-ferro desempenharam um papel crucial na aceleração da industrialização. Este período de rápidas mudanças foi também alimentado por um crescimento populacional sustentado, que proporcionou um mercado para novos produtos e uma mão de obra abundante para as fábricas. O desenvolvimento urbano foi espetacular, atraindo as populações rurais com a promessa de emprego e de melhores condições de vida, embora esta promessa não tenha sido muitas vezes cumprida, resultando em condições de vida urbanas difíceis. A economia começou a especializar-se na produção industrial, em vez da agricultura, e o comércio internacional desenvolveu-se para apoiar e expandir estas novas indústrias. Os Estados nacionais começaram a investir em infra-estruturas e a regular a economia para incentivar a industrialização. O contexto social também se alterou. As antigas hierarquias foram postas em causa e surgiram novas classes sociais, incluindo uma burguesia industrial e uma classe operária proletária. Estas mudanças lançaram as bases das sociedades modernas, com os seus próprios desafios políticos, económicos e sociais. No entanto, a transição das sociedades agrárias para as sociedades industriais não foi isenta de desafios. Trouxe consigo desigualdades sociais e económicas, condições de trabalho muitas vezes deploráveis, e teve um impacto ambiental significativo que ainda hoje se faz sentir. Apesar disso, a dinâmica desencadeada pela Revolução Industrial está na origem do crescimento económico e do desenvolvimento tecnológico sem precedentes que moldaram o mundo atual.