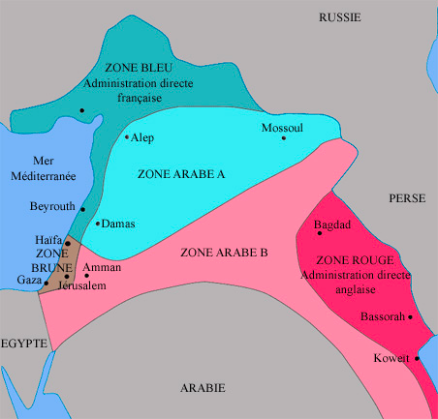Impérios e Estados no Médio Oriente
Basado en un curso de Yilmaz Özcan.[1][2]
O Médio Oriente, berço de civilizações antigas e encruzilhada de intercâmbios culturais e comerciais, desempenhou um papel central na história mundial, especialmente durante a Idade Média. Este período dinâmico e diversificado assistiu à ascensão e queda de numerosos impérios e Estados, cada um deles deixando uma marca indelével na paisagem política, cultural e social da região. Desde a expansão dos califados islâmicos, com o seu apogeu cultural e científico, até à influência prolongada do Império Bizantino, passando pelas incursões dos Cruzados e pelas conquistas mongóis, o Médio Oriente medieval foi um mosaico de poderes em constante evolução. Este período não só moldou a identidade da região, como também teve um profundo impacto no desenvolvimento da história mundial, construindo pontes entre o Oriente e o Ocidente. O estudo dos impérios e Estados do Médio Oriente na Idade Média oferece, portanto, uma janela fascinante para um período crucial da história da humanidade, revelando histórias de conquista, resistência, inovação e interação cultural.
O Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]
Fundação e expansão do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]
O Império Otomano, fundado no final do século XIII, é um exemplo fascinante de um poder imperial que teve um efeito profundo na história de três continentes: Ásia, África e Europa. A sua fundação é geralmente atribuída a Osman I, chefe de uma tribo turca da região da Anatólia. O êxito deste império residiu na sua capacidade de se expandir rapidamente e de estabelecer uma administração eficaz num imenso território. A partir de meados do século XIV, os otomanos começaram a expandir o seu território na Europa, conquistando gradualmente partes dos Balcãs. Esta expansão marcou um importante ponto de viragem no equilíbrio de poderes no Mediterrâneo e na Europa Oriental. No entanto, contrariamente à crença popular, o Império Otomano não destruiu Roma. De facto, os otomanos cercaram Constantinopla, a capital do Império Bizantino, e conquistaram-na em 1453, pondo fim a esse império. Esta conquista foi um acontecimento histórico de grande importância, marcando o fim da Idade Média e o início da era moderna na Europa.
O Império Otomano é conhecido pela sua complexa estrutura administrativa e pela tolerância religiosa, nomeadamente com o sistema de millets, que permitia uma certa autonomia às comunidades não muçulmanas. O seu apogeu estendeu-se do século XV ao século XVII, período durante o qual exerceu uma influência considerável no comércio, na cultura, na ciência, na arte e na arquitetura. Os otomanos introduziram muitas inovações e foram importantes mediadores entre o Oriente e o Ocidente. No entanto, a partir do século XVIII, o Império Otomano começou a entrar em declínio face à ascensão das potências europeias e aos problemas internos. Este declínio acelerou-se no século XIX, acabando por conduzir à dissolução do império após a Primeira Guerra Mundial. O legado do Império Otomano permanece profundamente enraizado nas regiões que governou, influenciando os aspectos culturais, políticos e sociais dessas sociedades até aos dias de hoje.
O Império Otomano, uma notável entidade política e militar fundada no final do século XIII por Osman I, teve um profundo impacto na história da Eurásia. Surgido num contexto de fragmentação política e de rivalidades entre os beylicats da Anatólia, este império rapidamente demonstrou uma capacidade excecional para alargar a sua influência, posicionando-se como uma potência dominante na região. Os meados do século XIV foram um ponto de viragem decisivo para o Império Otomano, nomeadamente com a conquista de Gallipoli em 1354. Esta vitória, longe de ser um mero feito de armas, marcou o primeiro assentamento otomano permanente na Europa e abriu caminho a uma série de conquistas nos Balcãs. Estes sucessos militares, aliados a uma diplomacia hábil, permitiram aos otomanos consolidar a sua posição em territórios estratégicos e interferir nos assuntos europeus.
Sob a liderança de governantes como Mehmed II, célebre pela conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano não só reformulou a paisagem política do Mediterrâneo Oriental, como também iniciou um período de profunda transformação cultural e económica. A tomada de Constantinopla, que pôs fim ao Império Bizantino, foi um momento crucial na história mundial, marcando o fim da Idade Média e o início da era moderna. O império destacou-se na arte da guerra, muitas vezes graças ao seu exército disciplinado e inovador, mas também através da sua abordagem pragmática da governação, integrando diversos grupos étnicos e religiosos sob um sistema administrativo centralizado. Esta diversidade cultural, associada à estabilidade política, favoreceu o florescimento das artes, da ciência e do comércio.
Conflitos e desafios militares do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]
Ao longo da sua história, o Império Otomano conheceu uma série de conquistas espectaculares e reveses significativos que moldaram o seu destino e o das regiões que dominou. A sua expansão, marcada por grandes vitórias, foi também pontuada por fracassos estratégicos. A incursão otomana nos Balcãs foi um dos primeiros passos da sua expansão europeia. Esta conquista não só alargou o seu território, como também reforçou a sua posição de potência dominante na região. A tomada de Istambul em 1453 por Mehmed II, conhecido como Mehmed, o Conquistador, foi um acontecimento histórico de grande importância. Esta vitória não só marcou o fim do Império Bizantino, como também simbolizou a ascensão indiscutível do Império Otomano como uma superpotência. A sua expansão continuou com a tomada do Cairo em 1517, um acontecimento crucial que marcou a integração do Egipto no império e o fim do califado abássida. Sob o comando de Solimão, o Magnífico, os otomanos conquistaram também Bagdade em 1533, alargando a sua influência às terras ricas e estratégicas da Mesopotâmia.
No entanto, a expansão otomana não foi isenta de obstáculos. O cerco de Viena em 1529, uma tentativa ambiciosa de alargar ainda mais a sua influência na Europa, acabou por fracassar. Uma nova tentativa em 1623 também falhou, marcando os limites da expansão otomana na Europa Central. Estes fracassos constituíram momentos-chave, ilustrando os limites do poder militar e logístico do Império Otomano face às defesas europeias organizadas. Outro grande revés foi a derrota na Batalha de Lepanto, em 1571. Esta batalha naval, em que a frota otomana foi derrotada por uma coligação de forças cristãs europeias, marcou um ponto de viragem no controlo otomano do Mediterrâneo. Embora o Império Otomano tenha conseguido recuperar desta derrota e manter uma forte presença na região, Lepanto simbolizou o fim da sua expansão incontestada e marcou o início de um período de rivalidades marítimas mais equilibradas no Mediterrâneo. No seu conjunto, estes acontecimentos ilustram a dinâmica da expansão otomana: uma série de conquistas impressionantes, intercaladas com desafios e reveses significativos. Estes acontecimentos põem em evidência a complexidade da gestão de um império tão vasto e a dificuldade de manter uma expansão constante face a adversários cada vez mais organizados e resistentes.
Reformas e transformações internas do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]
A Guerra Russo-Otomana de 1768-1774 foi um episódio crucial na história do Império Otomano, marcando não só o início das suas significativas perdas territoriais, mas também uma mudança na sua estrutura de legitimidade política e religiosa. O fim desta guerra foi marcado pela assinatura do Tratado de Küçük Kaynarca (ou Kutchuk-Kaïnardji) em 1774. Este tratado teve consequências de grande alcance para o Império Otomano. Em primeiro lugar, resultou na cessão de territórios importantes ao Império Russo, nomeadamente partes do Mar Negro e dos Balcãs. Esta perda não só reduziu a dimensão do Império, como também enfraqueceu a sua posição estratégica na Europa Oriental e na região do Mar Negro. Em segundo lugar, o tratado marcou um ponto de viragem nas relações internacionais da época, ao enfraquecer a posição do Império Otomano na cena europeia. O Império, que tinha sido um ator importante e muitas vezes dominante nos assuntos regionais, começou a ser visto como um Estado em declínio, vulnerável à pressão e à intervenção das potências europeias.
Por último, e talvez o mais importante, o fim desta guerra e o Tratado de Küçük Kaynarca tiveram também um impacto significativo na estrutura interna do Império Otomano. Perante estas derrotas, o Império começou a dar maior ênfase à vertente religiosa do Califado como fonte de legitimidade. O sultão otomano, já reconhecido como o líder político do império, começou a ser mais valorizado como o califa, o líder religioso da comunidade muçulmana. Esta evolução foi uma resposta à necessidade de reforçar a autoridade e a legitimidade do Sultanato face aos desafios internos e externos, apoiando-se na religião como força unificadora e fonte de poder. Assim, a Guerra Russo-Otomana e o tratado que dela resultou marcaram um ponto de viragem na história otomana, simbolizando tanto um declínio territorial como uma mudança na natureza da legitimidade imperial.
Influências estrangeiras e relações internacionais[modifier | modifier le wikicode]
A intervenção no Egipto em 1801, em que as forças britânicas e otomanas se uniram para expulsar os franceses, marcou um importante ponto de viragem na história do Egipto e do Império Otomano. A nomeação de Mehmet Ali, um oficial albanês, como paxá do Egipto pelos otomanos deu início a uma era de profunda transformação e semi-independência do Egipto em relação ao Império Otomano. Mehmet Ali, frequentemente considerado como o fundador do Egipto moderno, iniciou uma série de reformas radicais destinadas a modernizar o Egipto. Estas reformas afectaram vários aspectos, incluindo o exército, a administração e a economia, e foram inspiradas em parte pelos modelos europeus. Sob a sua liderança, o Egipto conheceu um desenvolvimento significativo e Mehmet Ali procurou alargar a sua influência para além do Egipto. Neste contexto, a Nahda, ou Renascença Árabe, ganhou um impulso considerável. Este movimento cultural e intelectual, que procurava revitalizar a cultura árabe e adaptá-la aos desafios modernos, beneficiou do clima de reforma e abertura iniciado por Mehmet Ali.
O filho de Mehmet Ali, Ibrahim Pasha, desempenhou um papel fundamental nas ambições expansionistas do Egipto. Em 1836, lançou uma ofensiva contra o Império Otomano, que se encontrava enfraquecido e em declínio. Este confronto culminou em 1839, quando as forças de Ibrahim infligiram uma grande derrota aos otomanos. No entanto, a intervenção das potências europeias, nomeadamente da Grã-Bretanha, da Áustria e da Rússia, impediu uma vitória total do Egipto. Sob pressão internacional, foi assinado um tratado de paz que reconhecia a autonomia de facto do Egipto sob o domínio de Mehmet Ali e dos seus descendentes. Este reconhecimento marcou um passo importante na separação do Egipto do Império Otomano, embora o Egipto continuasse nominalmente sob a suserania otomana. A posição britânica era particularmente interessante. Inicialmente aliados aos otomanos para conter a influência francesa no Egipto, acabaram por optar por apoiar a autonomia egípcia sob Mehmet Ali, reconhecendo a evolução das realidades políticas e estratégicas da região. Esta decisão reflectia o desejo britânico de estabilizar a região e, ao mesmo tempo, controlar as rotas comerciais vitais, em especial as que conduziam à Índia. O episódio egípcio nas primeiras décadas do século XIX ilustra não só a complexa dinâmica de poder entre o Império Otomano, o Egipto e as potências europeias, mas também as profundas mudanças que estavam a ocorrer na ordem política e social do Médio Oriente na época.
Modernização e movimentos de reforma[modifier | modifier le wikicode]
A expedição de Napoleão Bonaparte ao Egipto, em 1798, foi um acontecimento revelador para o Império Otomano, que se apercebeu do seu atraso em relação às potências europeias em termos de modernização e de capacidade militar. Esta constatação foi uma importante força motriz por detrás de uma série de reformas conhecidas como Tanzimat, lançadas em 1839 para modernizar o império e travar o seu declínio. O Tanzimat, que significa "reorganização" em turco, marcou um período de profunda transformação no Império Otomano. Um dos aspectos fundamentais destas reformas foi a modernização da organização dos dhimmis, os cidadãos não muçulmanos do império. Para o efeito, foram criados os sistemas de Millet, que proporcionavam às várias comunidades religiosas um certo grau de autonomia cultural e administrativa. O objetivo era integrar mais eficazmente estas comunidades na estrutura do Estado otomano, preservando simultaneamente as suas identidades distintas.
Foi iniciada uma segunda vaga de reformas, numa tentativa de criar uma forma de cidadania otomana que transcendesse as divisões religiosas e étnicas. No entanto, esta tentativa foi frequentemente dificultada pela violência intercomunitária, reflectindo as profundas tensões existentes no seio do império multiétnico e multiconfessional. Simultaneamente, estas reformas depararam-se com uma resistência significativa por parte de certas facções do exército, que eram hostis a mudanças consideradas uma ameaça ao seu estatuto e privilégios tradicionais. Esta resistência deu origem a revoltas e instabilidade interna, agravando os desafios que o império enfrentava.
Neste contexto tumultuoso, surgiu em meados do século XIX um movimento político e intelectual conhecido como os Jovens Otomanos. Este grupo procurou conciliar os ideais de modernização e reforma com os princípios do Islão e das tradições otomanas. Defendiam uma constituição, a soberania nacional e reformas políticas e sociais mais inclusivas. Os esforços do Tanzimat e os ideais dos Jovens Otomanos foram tentativas significativas de responder aos desafios que o Império Otomano enfrentava num mundo em rápida mudança. Embora estes esforços tenham trazido algumas mudanças positivas, também revelaram as profundas fissuras e tensões existentes no seio do império, prenunciando os desafios ainda maiores que surgiriam nas últimas décadas da sua existência.
Em 1876, a subida ao poder do sultão Abdülhamid II, que introduziu a primeira constituição monárquica do Império Otomano, constituiu uma etapa crucial do processo Tanzimat. Este período marcou um ponto de viragem significativo, tentando conciliar os princípios da modernização com a estrutura tradicional do império. A constituição de 1876 representou um esforço de modernização da administração do império e de criação de um sistema legislativo e de um parlamento, reflectindo os ideais liberais e constitucionais em voga na Europa da época. No entanto, o reinado de Abdülhamid II foi também marcado por uma forte ascensão do pan-islamismo, uma ideologia destinada a reforçar os laços entre os muçulmanos dentro e fora do império, num contexto de rivalidade crescente com as potências ocidentais.
Abdülhamid II utilizou o pan-islamismo como um instrumento para consolidar o seu poder e contrariar as influências externas. Convidou líderes e dignitários muçulmanos para Istambul e ofereceu-se para educar os seus filhos na capital otomana, uma iniciativa destinada a reforçar os laços culturais e políticos no seio do mundo muçulmano. No entanto, em 1878, numa reviravolta surpreendente, Abdülhamid II suspendeu a constituição e encerrou o parlamento, marcando o regresso ao regime autocrático. Esta decisão foi motivada, em parte, pelo receio de um controlo insuficiente do processo político e pela ascensão de movimentos nacionalistas no seio do império. O Sultão reforçou assim o seu controlo direto sobre o governo, continuando a promover o pan-islamismo como forma de legitimação.
Neste contexto, o salafismo, movimento que visa o regresso às práticas do Islão da primeira geração, foi influenciado pelos ideais do pan-islamismo e da Nahda (Renascença Árabe). Jamal al-Din al-Afghani, frequentemente considerado como o precursor do movimento salafista moderno, desempenhou um papel fundamental na divulgação destas ideias. Al-Afghani defendia o regresso aos princípios originais do Islão, encorajando simultaneamente a adoção de certas formas de modernização tecnológica e científica. O período do Tanzimat e o reinado de Abdülhamid II ilustram assim a complexidade das tentativas de reforma do Império Otomano, dividido entre as exigências da modernização e a manutenção das estruturas e ideologias tradicionais. O impacto deste período fez-se sentir muito para além da queda do Império, influenciando os movimentos políticos e religiosos em todo o mundo muçulmano moderno.
Declínio e queda do Império Otomano[modifier | modifier le wikicode]
A "questão oriental", termo utilizado sobretudo no século XIX e no início do século XX, refere-se a um debate complexo e multidimensional sobre o futuro do Império Otomano, em declínio gradual. Esta questão surgiu na sequência das sucessivas perdas territoriais do Império, da emergência do nacionalismo turco e da crescente separação dos territórios não muçulmanos, nomeadamente nos Balcãs. Logo em 1830, com a independência da Grécia, o Império Otomano começou a perder os seus territórios europeus. Esta tendência continuou com as Guerras dos Balcãs e acelerou durante a Primeira Guerra Mundial, culminando no Tratado de Sèvres, em 1920, e na fundação da República da Turquia, em 1923, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. Estas perdas alteraram profundamente a geografia política da região.
Neste contexto, o nacionalismo turco ganhou força. Este movimento procurou redefinir a identidade do império em torno do elemento turco, em contraste com o modelo multiétnico e multi-religioso que prevalecia até então. Esta ascensão do nacionalismo foi uma resposta direta ao desmantelamento gradual do império e à necessidade de forjar uma nova identidade nacional. Ao mesmo tempo, surgiu a ideia de formar uma espécie de "internacional do Islão", nomeadamente sob o impulso do sultão Abdülhamid II com o seu pan-islamismo. Esta ideia previa a criação de uma união ou cooperação entre as nações muçulmanas, inspirada em algumas ideias semelhantes na Europa, onde o internacionalismo procurava unir os povos para além das fronteiras nacionais. O objetivo era criar uma frente unida dos povos muçulmanos para resistir à influência e à intervenção das potências ocidentais, preservando os interesses e a independência dos territórios muçulmanos.
No entanto, a concretização desta ideia revelou-se difícil devido à diversidade de interesses nacionais, às rivalidades regionais e à crescente influência das ideias nacionalistas. Além disso, os desenvolvimentos políticos, nomeadamente a Primeira Guerra Mundial e a ascensão de movimentos nacionalistas em várias partes do Império Otomano, tornaram a visão de uma "internacional do Islão" cada vez mais inatingível. A Questão do Oriente no seu conjunto reflecte, pois, as profundas transformações geopolíticas e ideológicas que ocorreram na região durante este período, marcando o fim de um império multiétnico e o nascimento de novos Estados-nação com as suas próprias identidades e aspirações nacionais.
A "Weltpolitik" ou política mundial adoptada pela Alemanha no final do século XIX e início do século XX desempenhou um papel crucial na dinâmica geopolítica que envolveu o Império Otomano. Esta política, iniciada sob o reinado do Kaiser Wilhelm II, tinha como objetivo alargar a influência e o prestígio da Alemanha na cena internacional, nomeadamente através da expansão colonial e de alianças estratégicas. O Império Otomano, que procurava escapar à pressão da Rússia e da Grã-Bretanha, encontrou na Alemanha um aliado potencialmente útil. Esta aliança foi simbolizada, em particular, pelo projeto de construção do caminho de ferro Berlim-Bagdade (BBB). Este caminho de ferro, destinado a ligar Berlim a Bagdade via Bizâncio (Istambul), tinha uma importância estratégica e económica considerável. Destinava-se não só a facilitar o comércio e as comunicações, mas também a reforçar a influência alemã na região e a contrabalançar os interesses britânicos e russos no Médio Oriente.
Para os panturquistas e os apoiantes do Império Otomano, a aliança com a Alemanha era vista com bons olhos. Os panturquistas, que defendiam a unidade e a solidariedade dos povos de língua turca, viam nesta aliança uma oportunidade para reforçar a posição do Império Otomano e contrariar as ameaças externas. A aliança com a Alemanha constituía uma alternativa à pressão das potências tradicionais, como a Rússia e a Grã-Bretanha, que há muito influenciavam a política e os assuntos otomanos. Esta relação entre o Império Otomano e a Alemanha atingiu o seu auge durante a Primeira Guerra Mundial, quando as duas nações se aliaram nas Potências Centrais. Esta aliança teve consequências importantes para o Império Otomano, tanto a nível militar como político, e desempenhou um papel importante nos acontecimentos que acabaram por conduzir à dissolução do Império após a guerra. A Weltpolitik alemã e o projeto ferroviário Berlim-Bagdade foram elementos fundamentais da estratégia do Império Otomano para preservar a sua integridade e independência face à pressão das grandes potências. Este período marcou um momento importante na história do Império, ilustrando a complexidade das alianças e dos interesses geopolíticos no início do século XX.
O ano de 1908 marcou uma viragem decisiva na história do Império Otomano com o início do segundo período constitucional, desencadeado pelo movimento dos Jovens Turcos, representado principalmente pelo Comité de União e Progresso (CUP). Este movimento, inicialmente formado por oficiais e intelectuais otomanos reformistas, procurava modernizar o Império e salvá-lo do colapso.
Sob a pressão do CUP, o sultão Abdülhamid II foi obrigado a restabelecer a Constituição de 1876, suspensa desde 1878, o que marcou o início do segundo período constitucional. Esta restauração da constituição foi vista como um passo para a modernização e democratização do Império, com a promessa de direitos civis e políticos mais alargados e o estabelecimento de um governo parlamentar. No entanto, este período de reformas deparou-se rapidamente com grandes desafios. Em 1909, os círculos conservadores e religiosos tradicionais, insatisfeitos com as reformas e com a crescente influência dos unionistas, tentaram um golpe de Estado para derrubar o governo constitucional e restabelecer a autoridade absoluta do Sultão. Esta tentativa foi motivada pela oposição à rápida modernização e às políticas seculares promovidas pelos Jovens Turcos, bem como pelo receio de perda de privilégios e de influência. No entanto, os Jovens Turcos, utilizando este episódio de contrarrevolução como pretexto, conseguiram esmagar a resistência e consolidar o seu poder. Este período foi marcado pelo aumento da repressão contra os opositores e pela centralização do poder nas mãos da CUP.
Em 1913, a situação culminou com a tomada do Parlamento pelos líderes da CUP, um acontecimento frequentemente descrito como um golpe de Estado. Este facto marcou o fim da breve experiência constitucional e parlamentar do Império e a instauração de um regime cada vez mais autoritário liderado pelos Jovens Turcos. Sob o seu domínio, o Império Otomano assistiu a reformas substanciais, mas também a políticas mais centralizadoras e nacionalistas, lançando as bases para os acontecimentos que se desenrolariam durante e após a Primeira Guerra Mundial. Este período tumultuoso reflecte as tensões e as lutas internas do Império Otomano, dividido entre as forças da mudança e da tradição, lançando as bases para as transformações radicais que se seguiriam nos últimos anos do império.
Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano levou a cabo o que é hoje amplamente reconhecido como o genocídio arménio, um episódio trágico e negro da História. Esta política envolveu a deportação sistemática, o massacre e a morte em massa da população arménia que vivia no Império. A campanha contra os arménios começou com detenções, execuções e deportações em massa. Homens, mulheres, crianças e idosos arménios foram forçados a abandonar as suas casas e enviados em marchas da morte através do deserto da Síria, onde muitos morreram de fome, sede, doença ou violência. Muitas comunidades arménias, que tinham uma longa e rica história na região, foram destruídas.
As estimativas do número de vítimas variam, mas acredita-se geralmente que entre 800 000 e 1,5 milhões de arménios morreram durante este período. O genocídio teve um impacto duradouro na comunidade arménia mundial e continua a ser um tema de grande sensibilidade e controvérsia, nomeadamente devido à negação ou minimização destes acontecimentos por parte de alguns grupos. O genocídio arménio é frequentemente considerado um dos primeiros genocídios modernos e serviu de precursor obscuro de outras atrocidades em massa ocorridas durante o século XX. Desempenhou também um papel fundamental na formação da identidade arménia moderna, continuando a memória do genocídio a ser um elemento central da consciência arménia. O reconhecimento e a comemoração destes acontecimentos continuam a ser uma questão importante nas relações internacionais, nomeadamente nos debates sobre os direitos humanos e a prevenção do genocídio.
O Império Persa[modifier | modifier le wikicode]
Origens e conclusão do Império Persa[modifier | modifier le wikicode]
A história do Império Persa, atualmente conhecido como Irão, caracteriza-se por uma impressionante continuidade cultural e política, apesar das mudanças dinásticas e das invasões estrangeiras. Esta continuidade é um elemento-chave para compreender a evolução histórica e cultural da região.
O Império Medo, fundado no início do século VII a.C., foi uma das primeiras grandes potências da história do Irão. Este império desempenhou um papel crucial no lançamento das bases da civilização iraniana. No entanto, foi derrubado por Ciro II da Pérsia, também conhecido como Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C. A conquista da Média por Ciro marcou o início do Império Aqueménida, um período de grande expansão e influência cultural. Os Aqueménidas criaram um vasto império que se estendia desde o Indo até à Grécia e o seu reinado caracterizou-se por uma administração eficiente e por uma política de tolerância em relação às diferentes culturas e religiões existentes no império. A queda deste império foi provocada por Alexandre, o Grande, em 330 a.C., mas este facto não pôs fim à continuidade cultural persa.
Após um período de domínio helenístico e de fragmentação política, surgiu a dinastia sassânida em 224 d.C.. Fundada por Ardashir I, marcou o início de uma nova era para a região, que durou até 624 d.C. Sob o domínio dos sassânidas, o Grande Irão conheceu um período de renascimento cultural e político. A capital, Ctesiphon, tornou-se um centro de poder e de cultura, reflectindo a grandeza e a influência do império. Os Sassânidas desempenharam um papel importante no desenvolvimento da arte, da arquitetura, da literatura e da religião na região. Defenderam o zoroastrismo, que teve uma profunda influência na cultura e identidade persas. O seu império foi marcado por conflitos constantes com o Império Romano e, mais tarde, com o Império Bizantino, culminando em guerras dispendiosas que enfraqueceram ambos os impérios. A queda da dinastia Sassânida ocorreu na sequência das conquistas muçulmanas do século VII, mas a cultura e as tradições persas continuaram a influenciar a região, mesmo em períodos islâmicos posteriores. Esta resiliência e capacidade de integrar novos elementos, preservando simultaneamente um núcleo cultural distinto, está no cerne da noção de continuidade da história persa.
O Irão sob o Islão: Conquistas e Transformações[modifier | modifier le wikicode]
A partir de 642, o Irão entrou numa nova era da sua história com o início do período islâmico, na sequência das conquistas muçulmanas. Este período marcou um ponto de viragem significativo não só na história política da região, mas também na sua estrutura social, cultural e religiosa. A conquista do Irão pelos exércitos muçulmanos começou pouco depois da morte do profeta Maomé, em 632. Em 642, com a tomada da capital sassânida Ctesiphon, o Irão ficou sob o controlo do nascente Império Islâmico. Esta transição foi um processo complexo, que envolveu conflitos militares e negociações. Sob o domínio muçulmano, o Irão sofreu profundas alterações. O Islão tornou-se gradualmente a religião dominante, substituindo o Zoroastrismo, que tinha sido a religião do Estado nos impérios anteriores. No entanto, esta transição não se fez de um dia para o outro, tendo havido um período de coexistência e interação entre as diferentes tradições religiosas.
A cultura e a sociedade iranianas foram profundamente influenciadas pelo Islão, mas também exerceram uma influência significativa no mundo islâmico. O Irão tornou-se um importante centro da cultura e do conhecimento islâmicos, com contribuições notáveis em domínios como a filosofia, a poesia, a medicina e a astronomia. Figuras icónicas do Irão, como o poeta Rumi e o filósofo Avicena (Ibn Sina), desempenharam um papel fundamental no património cultural e intelectual islâmico. Este período foi também marcado por sucessivas dinastias, como os Omíadas, os Abássidas, os Safáridas, os Samânidas, os Boiadas e, mais tarde, os Seljúcidas, que contribuíram para a riqueza e diversidade da história iraniana. Cada uma destas dinastias trouxe as suas próprias nuances à governação, à cultura e à sociedade da região.
Surgimento e influência dos Sefevides[modifier | modifier le wikicode]
Em 1501, um acontecimento importante na história do Irão e do Médio Oriente teve lugar quando o Xá Ismail I estabeleceu o Império Sefevídeo no Azerbaijão. Este facto marcou o início de uma nova era não só para o Irão, mas para toda a região, com a introdução do xiismo duodecimano como religião do Estado, uma mudança que influenciou profundamente a identidade religiosa e cultural do Irão. O Império Sefevídeo, que reinou até 1736, desempenhou um papel crucial na consolidação do Irão como uma entidade política e cultural distinta. O Xá Ismail I, um líder carismático e poeta talentoso, conseguiu unificar várias regiões sob o seu controlo, criando um Estado centralizado e poderoso. Uma das suas decisões mais significativas foi a imposição do xiismo duodecimal como religião oficial do império, um ato que teve profundas implicações para o futuro do Irão e do Médio Oriente.
Esta "xiitização" do Irão, que envolveu a conversão forçada das populações sunitas e de outros grupos religiosos ao xiismo, foi uma estratégia deliberada para diferenciar o Irão dos seus vizinhos sunitas, nomeadamente o Império Otomano, e para consolidar o poder dos sefevides. Esta política também teve o efeito de reforçar a identidade xiita do Irão, que se tornou uma caraterística distintiva da nação iraniana até aos dias de hoje. Sob o domínio dos sefevides, o Irão viveu um período de renascimento cultural e artístico. A capital, Isfahan, tornou-se um dos mais importantes centros de arte, arquitetura e cultura do mundo islâmico. Os Sefevides incentivaram o desenvolvimento das artes, incluindo a pintura, a caligrafia, a poesia e a arquitetura, criando um legado cultural rico e duradouro. No entanto, o império foi também marcado por conflitos internos e externos, incluindo guerras contra o Império Otomano e os uzbeques. Estes conflitos, juntamente com os desafios internos, acabaram por contribuir para o declínio do império no século XVIII.
A Batalha de Chaldiran, que teve lugar em 1514, é um acontecimento significativo na história do Império Sefardita e do Império Otomano, marcando não só um ponto de viragem militar, mas também a formação de uma importante linha de divisão política entre os dois impérios. Nesta batalha, as forças sefarditas, lideradas pelo Xá Ismail I, enfrentaram o exército otomano sob o comando do Sultão Selim I. Os sefevides, embora valentes em combate, foram derrotados pelos otomanos, em grande parte devido à superioridade tecnológica destes últimos, nomeadamente a utilização eficaz da artilharia. Esta derrota teve consequências importantes para o Império Sefardita. Um dos resultados imediatos da Batalha de Chaldiran foi a perda de um território significativo para os Sefevides. Os otomanos conseguiram apoderar-se da metade oriental da Anatólia, reduzindo consideravelmente a influência sefevídea na região. Esta derrota estabeleceu também uma fronteira política duradoura entre os dois impérios, que se tornou um importante marco geopolítico na região. A derrota dos sefevides teve igualmente repercussões para os alevitas, uma comunidade religiosa que apoiava o Xá Ismail I e a sua política de xiitização. Na sequência da batalha, muitos alevitas foram perseguidos e massacrados na década seguinte, devido à sua fidelidade ao Xá Sefevide e às suas crenças religiosas distintas, que estavam em desacordo com as práticas sunitas dominantes no Império Otomano.
Após a sua vitória em Chaldiran, o Sultão Selim I continuou a sua expansão e, em 1517, conquistou o Cairo, pondo fim ao Califado Abássida. Esta conquista não só estendeu o Império Otomano até ao Egipto, como também reforçou a posição do Sultão como líder muçulmano influente, uma vez que assumiu o título de Califa, simbolizando a autoridade religiosa e política sobre o mundo muçulmano sunita. A Batalha de Chaldiran e as suas consequências ilustram, portanto, a intensa rivalidade entre as duas grandes potências muçulmanas da época, moldando significativamente a história política, religiosa e territorial do Médio Oriente.
A dinastia Qajar e a modernização do Irão[modifier | modifier le wikicode]
Em 1796, o Irão assistiu ao aparecimento de uma nova dinastia governante, a dinastia Qajar (ou Kadjar), fundada por Agha Mohammad Khan Qajar. De origem turcomana, esta dinastia substituiu a dinastia Zand e governou o Irão até ao início do século XX. Agha Mohammad Khan Qajar, depois de unificar várias facções e territórios no Irão, proclamou-se Xá em 1796, marcando o início oficial do governo Qajar. Este período foi significativo por várias razões na história do Irão. Sob o domínio dos Qajars, o Irão viveu um período de centralização do poder e de consolidação territorial, após anos de tumultos e divisões internas. A capital foi transferida de Shiraz para Teerão, que se tornou o centro político e cultural do país. Este período foi também marcado por relações internacionais complexas, nomeadamente com as potências imperialistas da época, a Rússia e a Grã-Bretanha. Os Qajars tiveram de navegar num ambiente internacional difícil, com o Irão frequentemente envolvido nas rivalidades geopolíticas das grandes potências, em especial no "Grande Jogo" entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Estas interacções conduziram frequentemente à perda de território e a importantes concessões económicas e políticas para o Irão.
Do ponto de vista cultural, o período Qajar é conhecido pela sua arte caraterística, nomeadamente a pintura, a arquitetura e as artes decorativas. A corte de Qajar era um centro de patrocínio artístico e este período assistiu a uma mistura única de estilos tradicionais iranianos com influências europeias modernas. No entanto, a dinastia Qajar foi também criticada pela sua incapacidade de modernizar efetivamente o país e de satisfazer as necessidades da sua população. Este fracasso levou ao descontentamento interno e lançou as bases para os movimentos de reforma e as revoluções constitucionais que ocorreram no início do século XX. A dinastia Qajar representa um período importante da história iraniana, marcado por esforços de centralização do poder, desafios diplomáticos e contribuições culturais significativas, mas também por lutas internas e pressões externas que moldaram o desenvolvimento subsequente do país.
O Irão no século XX: rumo a uma monarquia constitucional[modifier | modifier le wikicode]
Em 1906, o Irão viveu um momento histórico com o início do seu período constitucional, um passo importante na modernização política do país e na luta pela democracia. Esta evolução foi largamente influenciada por movimentos sociais e políticos que exigiam uma limitação do poder absoluto do monarca e uma governação mais representativa e constitucional. A Revolução Constitucional Iraniana levou à adoção da primeira Constituição do país em 1906, marcando a transição do Irão para uma monarquia constitucional. Esta constituição previa a criação de um parlamento, ou Majlis, e estabelecia leis e estruturas para modernizar e reformar a sociedade e o governo iranianos. No entanto, este período foi também marcado pela interferência estrangeira e pela divisão do país em esferas de influência. O Irão foi envolvido nas rivalidades entre a Grã-Bretanha e a Rússia, que procuravam alargar a sua influência na região. Estas potências estabeleceram diferentes "ordens internacionais" ou zonas de influência, limitando a soberania do Irão.
A descoberta de petróleo em 1908-1909 veio dar uma nova dimensão à situação no Irão. A descoberta, feita na região de Masjed Soleyman, atraiu rapidamente a atenção das potências estrangeiras, em especial da Grã-Bretanha, que procurava controlar os recursos petrolíferos do Irão. Esta descoberta aumentou consideravelmente a importância estratégica do Irão na cena internacional e complicou também a dinâmica interna do país. Apesar destas pressões externas e dos interesses associados aos recursos naturais, o Irão manteve uma política de neutralidade, nomeadamente durante conflitos mundiais como a Primeira Guerra Mundial. Esta neutralidade foi, em parte, uma tentativa de preservar a sua autonomia e resistir às influências estrangeiras que procuravam explorar os seus recursos e controlar a sua política. O início do século XX foi um período de mudança e de desafios para o Irão, caracterizado por esforços de modernização política, pela emergência de novos desafios económicos com a descoberta de petróleo e pela navegação num ambiente internacional complexo.
O Império Otomano na Primeira Guerra Mundial[modifier | modifier le wikicode]
Manobras diplomáticas e formação de alianças[modifier | modifier le wikicode]
A entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi precedida por um período de complexas manobras diplomáticas e militares que envolveram várias grandes potências, incluindo a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha. Depois de explorar potenciais alianças com a Grã-Bretanha e a França, o Império Otomano acabou por optar por uma aliança com a Alemanha. Esta decisão foi influenciada por vários factores, incluindo os laços militares e económicos pré-existentes entre os otomanos e a Alemanha, bem como a perceção das intenções das outras grandes potências europeias.
Apesar desta aliança, os otomanos estavam relutantes em entrar diretamente no conflito, conscientes das suas dificuldades internas e limitações militares. No entanto, a situação alterou-se com o incidente dos Dardanelos. Os otomanos utilizaram navios de guerra (alguns dos quais tinham sido adquiridos à Alemanha) para bombardear os portos russos no Mar Negro. Esta ação levou o Império Otomano a entrar na guerra ao lado das Potências Centrais e contra os Aliados, nomeadamente a Rússia, a França e a Grã-Bretanha.
Em resposta à entrada do Império Otomano na guerra, os britânicos lançaram a Campanha dos Dardanelos em 1915. O objetivo era tomar o controlo dos Dardanelos e do Bósforo, abrindo uma rota marítima para a Rússia. No entanto, a campanha terminou em fracasso para as forças aliadas e resultou em pesadas baixas para ambos os lados. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha formalizou o seu controlo sobre o Egipto, proclamando o Protetorado Britânico do Egipto em 1914. Esta decisão foi motivada por razões estratégicas, em grande parte para assegurar o Canal do Suez, um ponto de passagem vital para as rotas marítimas britânicas, particularmente para o acesso às colónias na Ásia. Estes acontecimentos ilustram a complexidade da situação geopolítica no Médio Oriente durante a Primeira Guerra Mundial. As decisões tomadas pelo Império Otomano tiveram implicações importantes, não só para o seu próprio império, mas também para a configuração do Médio Oriente no período pós-guerra.
A Revolta Árabe e a Mudança da Dinâmica no Médio Oriente[modifier | modifier le wikicode]
Durante a Primeira Guerra Mundial, os Aliados procuraram enfraquecer o Império Otomano abrindo uma nova frente no sul, o que levou à famosa Revolta Árabe de 1916. Esta revolta foi um momento-chave na história do Médio Oriente e marcou o início do movimento nacionalista árabe. Hussein ben Ali, o Xerife de Meca, desempenhou um papel central nesta revolta. Sob a sua liderança, e com o encorajamento e apoio de figuras como T.E. Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia, os árabes insurgiram-se contra o domínio otomano na esperança de criar um Estado árabe unificado. Esta aspiração à independência e à unificação foi motivada por um desejo de libertação nacional e pela promessa de autonomia feita pelos britânicos, em particular pelo general Henry MacMahon.
A Revolta Árabe teve vários êxitos significativos. Em junho de 1917, Faisal, filho de Hussein ben Ali, venceu a batalha de Aqaba, um ponto de viragem estratégico da revolta. Esta vitória abriu uma frente crucial contra os otomanos e reforçou o moral das forças árabes. Com a ajuda de Lawrence da Arábia e de outros oficiais britânicos, Faisal conseguiu unir várias tribos árabes no Hijaz, o que conduziu à libertação de Damasco em 1917. Em 1920, Faisal proclamou-se rei da Síria, afirmando a aspiração árabe à autodeterminação e à independência. No entanto, as suas ambições depararam-se com a realidade da política internacional. Os Acordos Sykes-Picot de 1916, um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França, já tinham dividido grande parte do Médio Oriente em zonas de influência, minando as esperanças de um grande reino árabe unificado. A Revolta Árabe foi um fator decisivo para o enfraquecimento do Império Otomano durante a guerra e lançou as bases do nacionalismo árabe moderno. No entanto, no período do pós-guerra, assistiu-se à divisão do Médio Oriente em vários Estados-nação sob mandato europeu, o que fez com que a concretização de um Estado árabe unificado, tal como previsto por Hussein ben Ali e pelos seus apoiantes, ficasse muito distante.
Desafios internos e genocídio arménio[modifier | modifier le wikicode]
A Primeira Guerra Mundial foi marcada por desenvolvimentos complexos e dinâmicas em mutação, nomeadamente a retirada da Rússia do conflito na sequência da Revolução Russa de 1917. Esta retirada teve implicações significativas para o desenrolar da guerra e para as outras potências beligerantes. A retirada da Rússia aliviou a pressão sobre as Potências Centrais, em especial sobre a Alemanha, que podia agora concentrar as suas forças na Frente Ocidental contra a França e os seus aliados. Esta mudança preocupou a Grã-Bretanha e os seus aliados, que procuravam formas de manter o equilíbrio de poderes.
No que diz respeito aos judeus bolcheviques, é importante notar que as revoluções russas de 1917 e a ascensão do bolchevismo foram fenómenos complexos, influenciados por vários factores dentro da Rússia. Embora houvesse judeus entre os bolcheviques, como em muitos movimentos políticos da época, a sua presença não deve ser interpretada de forma excessiva ou utilizada para promover narrativas simplistas ou anti-semitas. No que diz respeito ao Império Otomano, Enver Pasha, um dos líderes do movimento dos Jovens Turcos e Ministro da Guerra, desempenhou um papel fundamental na condução da guerra. Em 1914, lançou uma desastrosa ofensiva contra os russos no Cáucaso, que resultou numa grande derrota para os otomanos na Batalha de Sarikamish.
A derrota de Enver Pasha teve consequências trágicas, incluindo a eclosão do genocídio arménio. À procura de um bode expiatório para explicar a derrota, Enver Pasha e outros líderes otomanos acusaram a minoria arménia do império de conluio com os russos. Estas acusações alimentaram uma campanha de deportações, massacres e extermínios sistemáticos contra os arménios, que culminou no que é hoje reconhecido como o genocídio arménio. Este genocídio representa um dos episódios mais negros da Primeira Guerra Mundial e da história do Império Otomano, pondo em evidência os horrores e as consequências trágicas de um conflito em grande escala e de políticas de ódio étnico.
Resolução do pós-guerra e redefinição do Médio Oriente[modifier | modifier le wikicode]
A Conferência de Paz de Paris, que teve início em janeiro de 1919, foi um momento crucial na redefinição da ordem mundial após a Primeira Guerra Mundial. A conferência reuniu os líderes das principais potências aliadas para discutir os termos da paz e o futuro geopolítico, incluindo os territórios do Império Otomano, que se encontrava em declínio. Uma das principais questões debatidas na conferência dizia respeito ao futuro dos territórios otomanos no Médio Oriente. Os Aliados estavam a considerar a possibilidade de redesenhar as fronteiras da região, influenciados por várias considerações políticas, estratégicas e económicas, incluindo o controlo dos recursos petrolíferos. Embora a conferência permitisse, teoricamente, que as nações envolvidas apresentassem os seus pontos de vista, na prática, várias delegações foram marginalizadas ou as suas exigências ignoradas. Por exemplo, a delegação egípcia, que pretendia discutir a independência do Egipto, enfrentou obstáculos, ilustrados pelo exílio de alguns dos seus membros em Malta. Esta situação reflecte a dinâmica desigual de poder na conferência, em que prevaleceram frequentemente os interesses das potências europeias predominantes.
Faisal, filho de Hussein bin Ali e líder da Revolta Árabe, desempenhou um papel importante na conferência. Representou os interesses árabes e defendeu o reconhecimento da independência e da autonomia árabes. Apesar dos seus esforços, as decisões tomadas na conferência não satisfizeram plenamente as aspirações árabes a um Estado independente e unificado. Faisal criou um Estado na Síria, proclamando-se Rei da Síria em 1920. No entanto, as suas ambições tiveram vida curta, pois a Síria foi colocada sob mandato francês após a Conferência de San Remo, em 1920, uma decisão que fazia parte da divisão do Médio Oriente entre as potências europeias, em conformidade com os acordos Sykes-Picot de 1916. A Conferência de Paris e os seus resultados tiveram, portanto, profundas implicações para o Médio Oriente, lançando as bases de muitas das tensões e conflitos regionais que continuam até hoje. As decisões tomadas reflectiram os interesses das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, muitas vezes em detrimento das aspirações nacionais dos povos da região.
O acordo entre Georges Clemenceau, em representação da França, e Faisal, líder da Revolta Árabe, bem como as discussões em torno da criação de novos Estados no Médio Oriente, são elementos-chave do período pós-Primeira Guerra Mundial que moldaram a ordem geopolítica da região. O acordo Clemenceau-Fayçal foi considerado muito favorável à França. Fayçal, que procurava assegurar uma forma de autonomia para os territórios árabes, teve de fazer concessões significativas. A França, que tinha interesses coloniais e estratégicos na região, aproveitou a sua posição na Conferência de Paris para afirmar o seu controlo, nomeadamente sobre territórios como a Síria e o Líbano. A delegação libanesa obteve o direito de criar um Estado separado, o Grande Líbano, sob mandato francês. Esta decisão foi influenciada pelas aspirações das comunidades cristãs maronitas do Líbano, que pretendiam criar um Estado com fronteiras alargadas e um certo grau de autonomia sob a tutela francesa. Relativamente à questão curda, foram feitas promessas de criação de um Curdistão. Estas promessas constituíam, em parte, um reconhecimento das aspirações nacionalistas curdas e um meio de enfraquecer o Império Otomano. No entanto, a implementação desta promessa revelou-se complexa e foi largamente ignorada nos tratados do pós-guerra.
Todos estes elementos convergiram no Tratado de Sèvres, em 1920, que formalizou o desmembramento do Império Otomano. Este tratado redesenhou as fronteiras do Médio Oriente, criando novos Estados sob mandatos franceses e britânicos. O tratado previa também a criação de uma entidade curda autónoma, embora esta disposição nunca tenha sido aplicada. O Tratado de Sèvres, embora nunca tenha sido totalmente ratificado e tenha sido substituído pelo Tratado de Lausana em 1923, foi um momento decisivo na história da região. Lançou as bases da estrutura política moderna do Médio Oriente, mas também lançou as sementes de muitos conflitos futuros, devido à ignorância das realidades étnicas, culturais e históricas da região.
Transição para a República e ascensão de Atatürk[modifier | modifier le wikicode]
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, enfraquecido e sob pressão, aceitou assinar o Tratado de Sèvres em 1920. Este tratado, que desmantelou o Império Otomano e redistribuiu os seus territórios, parecia marcar o fim da longa "Questão Oriental" relativa ao destino do império. No entanto, longe de pôr fim às tensões na região, o Tratado de Sèvres exacerbou os sentimentos nacionalistas e deu origem a novos conflitos.
Na Turquia, formou-se uma forte resistência nacionalista, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, em oposição ao Tratado de Sèvres. Este movimento nacionalista opunha-se às disposições do tratado, que impunham graves perdas territoriais e aumentavam a influência estrangeira no território otomano. A resistência lutou contra vários grupos, incluindo os arménios, os gregos da Anatólia e os curdos, com o objetivo de forjar um novo Estado-nação turco homogéneo. A Guerra da Independência Turca que se seguiu foi um período de intensos conflitos e de recomposição territorial. As forças nacionalistas turcas conseguiram fazer recuar os exércitos gregos na Anatólia e contrariar os outros grupos rebeldes. Esta vitória militar foi um elemento fundamental para a fundação da República da Turquia em 1923.
Na sequência destes acontecimentos, o Tratado de Sèvres foi substituído pelo Tratado de Lausana em 1923. Este novo tratado reconheceu as fronteiras da nova República da Turquia e anulou as disposições mais punitivas do Tratado de Sèvres. O Tratado de Lausana marcou uma etapa importante no estabelecimento da Turquia moderna como um Estado soberano e independente, redefinindo o seu papel na região e nos assuntos internacionais. Estes acontecimentos não só redesenharam o mapa político do Médio Oriente, como também marcaram o fim do Império Otomano e abriram um novo capítulo na história da Turquia, com repercussões que continuam a influenciar a região e o mundo até aos dias de hoje.
Abolição do califado e suas repercussões[modifier | modifier le wikicode]
A abolição do califado em 1924 foi um acontecimento importante na história moderna do Médio Oriente, marcando o fim de uma instituição islâmica que tinha durado séculos. A decisão foi tomada por Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República da Turquia, no âmbito das suas reformas para secularizar e modernizar o novo Estado turco. A abolição do califado constituiu um golpe na estrutura tradicional da autoridade islâmica. O califa era considerado o chefe espiritual e temporal da comunidade muçulmana (ummah) desde o tempo do Profeta Maomé. Com a abolição do Califado, esta instituição central do Islão sunita desapareceu, deixando um vazio na liderança muçulmana.
Em resposta à abolição do Califado pela Turquia, Hussein ben Ali, que se tinha tornado rei de Hijaz após a queda do Império Otomano, proclamou-se califa. Hussein, membro da família hachemita e descendente direto do Profeta Maomé, procurou reclamar esta posição para manter uma forma de continuidade espiritual e política no mundo muçulmano. No entanto, a pretensão de Hussein ao califado não foi amplamente reconhecida e teve uma vida curta. A sua posição foi enfraquecida por desafios internos e externos, incluindo a oposição da família Saud, que controlava grande parte da Península Arábica. A ascensão dos Saud, sob a liderança de Abdelaziz Ibn Saud, acabou por conduzir à conquista de Hijaz e à criação do Reino da Arábia Saudita. A destituição de Hussein bin Ali pelos sauditas simbolizou a mudança radical de poder na Península Arábica e marcou o fim das suas ambições de califado. Este acontecimento também pôs em evidência as transformações políticas e religiosas em curso no mundo muçulmano, marcando o início de uma nova era em que a política e a religião começariam a seguir caminhos mais distintos em muitos países muçulmanos.
O período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi crucial para a redefinição política do Médio Oriente, com intervenções significativas das potências europeias, nomeadamente da França e da Grã-Bretanha. Em 1920, ocorreu um acontecimento importante na Síria, que marcou um ponto de viragem na história da região. Faisal, filho de Hussein ben Ali e figura central da Revolta Árabe, tinha estabelecido um reino árabe na Síria após a queda do Império Otomano, aspirando a realizar o sonho de um Estado árabe unificado. No entanto, as suas ambições esbarraram com a realidade dos interesses coloniais franceses. Após a batalha de Maysaloun, em julho de 1920, os franceses, agindo ao abrigo do mandato da Liga das Nações, tomaram o controlo de Damasco e desmantelaram o Estado árabe de Faisal, pondo fim ao seu reinado na Síria. Esta intervenção francesa reflectiu a complexa dinâmica do período do pós-guerra, em que as aspirações nacionais dos povos do Médio Oriente eram frequentemente ofuscadas pelos interesses estratégicos das potências europeias. Fayçal, deposto do seu trono sírio, encontrou, no entanto, um novo destino no Iraque. Em 1921, sob os auspícios britânicos, foi instalado como o primeiro rei da monarquia hachemita do Iraque, uma ação estratégica dos britânicos para assegurar uma liderança favorável e a estabilidade nesta região rica em petróleo.
Ao mesmo tempo, na Transjordânia, outra manobra política foi posta em prática pelos britânicos. Para contrariar as aspirações sionistas na Palestina e manter o equilíbrio do seu mandato, criaram o Reino da Transjordânia em 1921 e instalaram Abdallah, outro filho de Hussein ben Ali. Esta decisão destinava-se a dar a Abdallah um território para governar, mantendo a Palestina sob controlo direto dos britânicos. A criação da Transjordânia foi um passo importante na formação do moderno Estado da Jordânia e ilustrou a forma como os interesses coloniais moldaram as fronteiras e as estruturas políticas do Médio Oriente moderno. Estes desenvolvimentos na região após a Primeira Guerra Mundial demonstram a complexidade da política do Médio Oriente no período entre guerras. As decisões tomadas pelas potências europeias por procuração, influenciadas pelos seus próprios interesses estratégicos e geopolíticos, tiveram consequências duradouras, lançando as bases das estruturas estatais e dos conflitos que continuam a afetar o Médio Oriente. Estes acontecimentos põem também em evidência a luta entre as aspirações nacionais dos povos da região e as realidades do domínio colonial europeu, um tema recorrente na história do Médio Oriente no século XX.
Conferência de San Remo[modifier | modifier le wikicode]
A Conferência de San Remo, realizada em abril de 1920, foi um momento decisivo na história do pós-Primeira Guerra Mundial, em especial no Médio Oriente. Centrou-se na atribuição de mandatos sobre as antigas províncias do Império Otomano, na sequência da sua derrota e desmembramento. Nesta conferência, as potências aliadas vitoriosas decidiram a distribuição dos mandatos. A França obteve o mandato sobre a Síria e o Líbano, assumindo assim o controlo de duas regiões estrategicamente importantes e culturalmente ricas. Por seu lado, os britânicos receberam mandatos sobre a Transjordânia, a Palestina e a Mesopotâmia, esta última rebaptizada de Iraque. Estas decisões reflectiam os interesses geopolíticos e económicos das potências coloniais, nomeadamente em termos de acesso aos recursos e de controlo estratégico.
Paralelamente a estes desenvolvimentos, a Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, estava empenhada num processo de redefinição nacional. Após a guerra, a Turquia procurou estabelecer novas fronteiras nacionais. Este período foi marcado por conflitos trágicos, nomeadamente o esmagamento dos arménios, que se seguiu ao genocídio arménio perpetrado durante a guerra. Em 1923, após vários anos de luta e de negociações diplomáticas, Mustafa Kemal Atatürk conseguiu renegociar os termos do Tratado de Sèvres, imposto à Turquia em 1920 e considerado humilhante e inaceitável pelos nacionalistas turcos. O Tratado de Lausana, assinado em julho de 1923, substituiu o Tratado de Sèvres e reconheceu a soberania e as fronteiras da nova República da Turquia. Este tratado marcou o fim oficial do Império Otomano e lançou as bases do Estado turco moderno.
O Tratado de Lausana é considerado um grande êxito para Mustafa Kemal e para o movimento nacionalista turco. Não só redefiniu as fronteiras da Turquia, como também permitiu à nova república começar de novo na cena internacional, liberta das restrições do Tratado de Sèvres. Estes acontecimentos, desde a Conferência de San Remo até à assinatura do Tratado de Lausana, tiveram um impacto profundo no Médio Oriente, moldando as fronteiras nacionais, as relações internacionais e a dinâmica política da região durante décadas.
Promessas dos Aliados e exigências dos árabes[modifier | modifier le wikicode]
Durante a Primeira Guerra Mundial, o desmantelamento e a divisão do Império Otomano estiveram no centro das preocupações das potências aliadas, principalmente da Grã-Bretanha, da França e da Rússia. Estas potências, na expetativa de uma vitória sobre o Império Otomano, aliado das Potências Centrais, começaram a planear a divisão dos seus vastos territórios.
Em 1915, enquanto decorria a Primeira Guerra Mundial, tiveram lugar negociações cruciais em Constantinopla, envolvendo representantes da Grã-Bretanha, França e Rússia. Estas discussões centraram-se no futuro dos territórios do Império Otomano, então aliado das Potências Centrais. O Império Otomano, enfraquecido e em declínio, era visto pelos Aliados como um território a dividir em caso de vitória. Estas negociações em Constantinopla foram fortemente motivadas por interesses estratégicos e coloniais. Cada potência procurava alargar a sua influência na região, que era estrategicamente importante devido à sua posição geográfica e aos seus recursos. A Rússia estava particularmente interessada em controlar os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos, essenciais para o seu acesso ao Mediterrâneo. A França e a Grã-Bretanha, por seu lado, procuravam expandir os seus impérios coloniais e garantir o seu acesso aos recursos da região, nomeadamente ao petróleo. No entanto, é importante notar que, embora estas discussões tenham tido um impacto significativo no futuro dos territórios otomanos, os acordos mais significativos e pormenorizados relativos à sua divisão foram formalizados mais tarde, nomeadamente no acordo Sykes-Picot de 1916.
O Acordo Sykes-Picot de 1916, celebrado pelo diplomata britânico Mark Sykes e pelo diplomata francês François Georges-Picot, representa um momento-chave na história do Médio Oriente, influenciando profundamente a configuração geopolítica da região após a Primeira Guerra Mundial. Este acordo foi concebido para definir a divisão dos territórios do Império Otomano entre a Grã-Bretanha, a França e, em certa medida, a Rússia, embora a participação russa tenha sido anulada pela Revolução Russa de 1917. O Acordo Sykes-Picot estabeleceu zonas de influência e controlo para a França e a Grã-Bretanha no Médio Oriente. Nos termos deste acordo, a França deveria obter controlo ou influência direta sobre a Síria e o Líbano, enquanto a Grã-Bretanha deveria ter um controlo semelhante sobre o Iraque, a Jordânia e uma área em torno da Palestina. No entanto, este acordo não definiu com exatidão as fronteiras dos futuros Estados, deixando essa questão para negociações e acordos posteriores.
A importância do acordo Sykes-Picot reside no seu papel de "génese" das memórias colectivas relativas ao espaço geográfico do Médio Oriente. Simboliza a intervenção imperialista e as manipulações das potências europeias na região, muitas vezes à revelia das identidades étnicas, religiosas e culturais locais. Embora o acordo tenha influenciado a criação de Estados no Médio Oriente, as fronteiras reais desses Estados foram determinadas por equilíbrios de poder subsequentes, negociações diplomáticas e realidades geopolíticas que evoluíram após a Primeira Guerra Mundial. As consequências do acordo Sykes-Picot reflectiram-se nos mandatos da Liga das Nações atribuídos à França e à Grã-Bretanha após a guerra, levando à formação de vários Estados modernos do Médio Oriente. No entanto, as fronteiras traçadas e as decisões tomadas ignoraram frequentemente as realidades étnicas e religiosas no terreno, lançando as sementes de futuros conflitos e tensões na região. O legado do acordo continua a ser um tema de debate e descontentamento no Médio Oriente contemporâneo, simbolizando as intervenções e divisões impostas por potências estrangeiras.
Este mapa ilustra a divisão dos territórios do Império Otomano, tal como estabelecido nos acordos Sykes-Picot de 1916 entre a França e a Grã-Bretanha, com zonas de administração direta e zonas de influência.
A "Zona Azul", que representa a administração direta francesa, abrangia as regiões que viriam a ser a Síria e o Líbano. Isto mostra que a França pretendia exercer um controlo direto sobre os centros urbanos estratégicos e as regiões costeiras. A "Zona Vermelha", sob administração direta britânica, englobava o futuro Iraque, com cidades-chave como Bagdade e Bassorá, bem como o Kuwait, que era representado de forma isolada. Esta zona reflectia o interesse britânico nas regiões produtoras de petróleo e a sua importância estratégica como porta de entrada para o Golfo Pérsico. A "Zona Castanha", que representa a Palestina (incluindo locais como Haifa, Jerusalém e Gaza), não está explicitamente definida no Acordo Sykes-Picot em termos de controlo direto, mas está geralmente associada à influência britânica. Mais tarde, tornou-se um mandato britânico e o foco de tensões e conflitos políticos em resultado da Declaração Balfour e do movimento sionista.
As "Áreas Árabes A e B" eram regiões onde a autonomia árabe deveria ser reconhecida sob supervisão francesa e britânica, respetivamente. Este facto foi interpretado como uma concessão às aspirações árabes de alguma forma de autonomia ou independência, que tinham sido encorajadas pelos Aliados durante a guerra para ganhar o apoio árabe contra o Império Otomano. O que este mapa não mostra é a complexidade e as múltiplas promessas feitas pelos Aliados durante a guerra, que eram muitas vezes contraditórias e levaram a sentimentos de traição entre as populações locais depois de o acordo ter sido revelado. O mapa representa uma simplificação dos acordos Sykes-Picot, que, na realidade, eram muito mais complexos e sofreram alterações ao longo do tempo em resultado da evolução política, dos conflitos e da pressão internacional.
A revelação dos acordos Sykes-Picot pelos bolcheviques russos após a Revolução Russa de 1917 teve um impacto retumbante, não só na região do Médio Oriente, mas também na cena internacional. Ao exporem estes acordos secretos, os bolcheviques procuraram criticar o imperialismo das potências ocidentais, nomeadamente da França e da Grã-Bretanha, e demonstrar o seu próprio empenhamento nos princípios da autodeterminação e da transparência. Os acordos Sykes-Picot não foram o início, mas antes o culminar de um longo processo da "Questão Oriental", uma questão diplomática complexa que preocupou as potências europeias ao longo do século XIX e início do século XX. Este processo dizia respeito à gestão e partilha de influência sobre os territórios do Império Otomano em declínio, e os acordos Sykes-Picot foram um passo decisivo neste processo.
Ao abrigo destes acordos, foi estabelecida uma zona de influência francesa na Síria e no Líbano, enquanto a Grã-Bretanha ganhou controlo ou influência sobre o Iraque, a Jordânia e uma região em torno da Palestina. O objetivo era criar zonas-tampão entre as esferas de influência das grandes potências, incluindo entre os britânicos e os russos, que tinham interesses concorrentes na região. Esta configuração foi, em parte, uma resposta à dificuldade de coabitação entre estas potências, como demonstrado pela sua concorrência na Índia e noutros locais. A publicação dos acordos Sykes-Picot provocou uma forte reação no mundo árabe, onde foram vistos como uma traição às promessas feitas aos líderes árabes durante a guerra. Esta revelação exacerbou os sentimentos de desconfiança em relação às potências ocidentais e alimentou as aspirações nacionalistas e anti-imperialistas na região. O impacto destes acordos ainda hoje se faz sentir, uma vez que lançaram as bases das modernas fronteiras do Médio Oriente e da dinâmica política que continua a influenciar a região.
O Genocídio Arménio[modifier | modifier le wikicode]
Antecedentes históricos e início do genocídio (1915-1917)[modifier | modifier le wikicode]
A Primeira Guerra Mundial foi um período de intensos conflitos e convulsões políticas, mas foi também marcado por um dos acontecimentos mais trágicos do início do século XX: o genocídio arménio. Este genocídio foi perpetrado pelo governo dos Jovens Turcos do Império Otomano entre 1915 e 1917, embora os actos de violência e deportação tenham começado antes e continuado depois destas datas.
Durante este período trágico, os arménios otomanos, um grupo étnico cristão minoritário do Império Otomano, foram sistematicamente alvo de campanhas de deportação forçada, execuções em massa, marchas da morte e fomes planeadas. As autoridades otomanas, utilizando a guerra como cobertura e pretexto para resolver o que consideravam ser um "problema arménio", orquestraram estas acções com o objetivo de eliminar a população arménia da Anatólia e de outras regiões do Império. As estimativas do número de vítimas variam, mas é amplamente aceite que cerca de 1,5 milhões de arménios pereceram. O genocídio arménio deixou uma marca profunda na memória colectiva arménia e teve um impacto duradouro na comunidade arménia mundial. É considerado um dos primeiros genocídios modernos e ensombrou as relações turco-arménias durante mais de um século.
O reconhecimento do genocídio arménio continua a ser uma questão sensível e controversa. Muitos países e organizações internacionais reconheceram formalmente o genocídio, mas persistem alguns debates e tensões diplomáticas, nomeadamente com a Turquia, que contesta a caraterização dos acontecimentos como genocídio. O genocídio arménio teve também implicações para o direito internacional, influenciando o desenvolvimento da noção de genocídio e motivando esforços para evitar tais atrocidades no futuro. Este acontecimento sombrio sublinha a importância da memória histórica e do reconhecimento das injustiças do passado para a construção de um futuro comum baseado na compreensão e na reconciliação.
Raízes históricas da Arménia[modifier | modifier le wikicode]
O povo arménio tem uma história rica e antiga, que remonta a muito antes da era cristã. Segundo a tradição nacionalista e a mitologia arménias, as suas raízes remontam a 200 a.C., ou mesmo antes. Esta afirmação é apoiada por provas arqueológicas e históricas que mostram que os arménios ocuparam o planalto arménio durante milénios. A Arménia histórica, frequentemente designada por Alta Arménia ou Grande Arménia, situava-se numa área que incluía partes da atual Turquia oriental, Arménia, Azerbaijão, Geórgia, o atual Irão e Iraque. Esta região foi o berço do reino de Urartu, considerado um precursor da antiga Arménia, que floresceu entre o século IX e o século VI a.C. O reino da Arménia foi formalmente estabelecido e reconhecido no início do século VI a.C., após a queda de Urartu e através da integração no Império Aqueménida. Atingiu o seu apogeu durante o reinado de Tigre, o Grande, no século I a.C., quando se expandiu brevemente para formar um império que se estendia desde o Mar Cáspio até ao Mediterrâneo.
A profundidade histórica da presença arménia na região é também ilustrada pela adoção precoce do cristianismo como religião do Estado em 301 d.C., tornando a Arménia o primeiro país a fazê-lo oficialmente. Os arménios mantiveram uma identidade cultural e religiosa distinta ao longo dos séculos, apesar das invasões e do domínio de vários impérios estrangeiros. Esta longa história forjou uma forte identidade nacional que sobreviveu ao longo dos tempos, mesmo perante graves dificuldades, como o genocídio arménio no início do século XX. As narrativas mitológicas e históricas arménias, embora por vezes embelezadas por um espírito nacionalista, baseiam-se numa história real e significativa que contribuiu para a riqueza cultural e a resistência do povo arménio.
Arménia, o primeiro Estado cristão[modifier | modifier le wikicode]
A Arménia detém o título histórico de ser o primeiro reino a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado. Este acontecimento monumental teve lugar em 301 d.C., durante o reinado do rei Tiridates III, e foi largamente influenciado pela atividade missionária de São Gregório, o Iluminador, que se tornou o primeiro chefe da Igreja arménia. A conversão do Reino da Arménia ao cristianismo precedeu a do Império Romano, que, sob o imperador Constantino, começou a adotar o cristianismo como religião dominante após o Édito de Milão, em 313 d.C. A conversão da Arménia foi um processo significativo que influenciou profundamente a identidade cultural e nacional do povo arménio. A adoção do cristianismo levou ao desenvolvimento da cultura e da arte religiosa arménias, incluindo a arquitetura única das igrejas e mosteiros arménios, bem como à criação do alfabeto arménio por São Mesrop Mashtots, no início do século V. Este alfabeto permitiu o florescimento da literatura arménia, incluindo a tradução da Bíblia e de outros textos religiosos importantes, contribuindo assim para reforçar a identidade cristã arménia. A posição da Arménia como primeiro Estado cristão teve também implicações políticas e geopolíticas, uma vez que se encontrava frequentemente na fronteira de grandes impérios concorrentes e rodeada de vizinhos não cristãos. Esta distinção contribuiu para moldar o papel e a história da Arménia ao longo dos séculos, tornando-a um ator importante na história do cristianismo e na história regional do Médio Oriente e do Cáucaso.
A história da Arménia após a adoção do cristianismo como religião oficial foi complexa e frequentemente tumultuosa. Após vários séculos de conflitos com os impérios vizinhos e períodos de relativa autonomia, os arménios sofreram uma grande mudança com as conquistas árabes no século VII.
Com a rápida difusão do Islão após a morte do profeta Maomé, as forças árabes conquistaram vastas áreas do Médio Oriente, incluindo grande parte da Arménia, por volta de 640 d.C. Neste período, a Arménia ficou dividida entre a influência bizantina e o califado árabe, o que resultou numa divisão cultural e política da região arménia. Durante o período de domínio árabe e, mais tarde, durante o Império Otomano, os arménios, enquanto cristãos, foram geralmente classificados como "dhimmis" - uma categoria protegida, mas inferior, de não muçulmanos ao abrigo da lei islâmica. Este estatuto conferia-lhes um certo grau de proteção e permitia-lhes praticar a sua religião, mas estavam também sujeitos a impostos específicos e a restrições sociais e legais. A maior parte da Arménia histórica ficou presa entre os impérios otomano e russo no século XIX e no início do século XX. Durante este período, os arménios procuraram preservar a sua identidade cultural e religiosa, ao mesmo tempo que enfrentavam desafios políticos cada vez maiores.
Durante o reinado do Sultão Abdülhamid II (finais do século XIX), o Império Otomano adoptou uma política pan-islamista, procurando unir os diversos povos muçulmanos do império em resposta ao declínio do poder otomano e às pressões internas e externas. Esta política exacerbou frequentemente as tensões étnicas e religiosas no seio do Império, levando à violência contra os arménios e outros grupos não muçulmanos. Os massacres de Hamidian, no final do século XIX, em que foram mortos dezenas de milhares de arménios, são um exemplo trágico da violência que precedeu e prefigurou o genocídio arménio de 1915. Estes acontecimentos evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelos arménios e outras minorias num império que procurava a unidade política e religiosa face ao nacionalismo emergente e ao declínio imperial.
O Tratado de San Stefano e o Congresso de Berlim[modifier | modifier le wikicode]
O Tratado de San Stefano, assinado em 1878, foi um momento crucial para a questão arménia, que se tornou um assunto de interesse internacional. O tratado foi celebrado no final da Guerra Russo-Turca de 1877-1878, que se caracterizou por uma derrota significativa do Império Otomano às mãos do Império Russo. Um dos aspectos mais notáveis do Tratado de San Stefano é a cláusula que obriga o Império Otomano a realizar reformas a favor das populações cristãs, nomeadamente dos arménios, e a melhorar as suas condições de vida. Esta cláusula reconhecia implicitamente os maus tratos sofridos pelos arménios e a necessidade de proteção internacional. No entanto, a aplicação das reformas prometidas no tratado foi em grande parte ineficaz. O Império Otomano, enfraquecido pela guerra e pelas pressões internas, mostrou-se relutante em fazer concessões que pudessem ser entendidas como uma interferência estrangeira nos seus assuntos internos. Além disso, as disposições do Tratado de San Stefano foram reformuladas mais tarde, nesse mesmo ano, pelo Congresso de Berlim, que ajustou os termos do tratado para ir ao encontro das preocupações de outras grandes potências, nomeadamente a Grã-Bretanha e a Áustria-Hungria.
O Congresso de Berlim continuou, no entanto, a pressionar o Império Otomano para que procedesse a reformas, mas, na prática, pouco foi feito para melhorar efetivamente a situação dos arménios. Esta falta de ação, associada à instabilidade política e às crescentes tensões étnicas no seio do Império, criou um ambiente que acabou por conduzir aos massacres hamidianos da década de 1890 e, mais tarde, ao genocídio arménio de 1915. A internacionalização da questão arménia pelo Tratado de San Stefano marcou assim o início de um período em que as potências europeias começaram a exercer uma influência mais direta sobre os assuntos do Império Otomano, muitas vezes sob o pretexto de proteger as minorias cristãs. No entanto, o desfasamento entre as promessas de reforma e a sua execução deixou um legado de compromissos não cumpridos com consequências trágicas para o povo arménio.
O final do século XIX e o início do século XX foram um período de grande violência para as comunidades arménia e assíria do Império Otomano. Em particular, os anos de 1895 e 1896 foram marcados por massacres em grande escala, frequentemente designados por massacres hamidianos, em homenagem ao Sultão Abdülhamid II. Estes massacres foram perpetrados em resposta aos protestos dos arménios contra os impostos opressivos, as perseguições e a falta de reformas prometidas pelo Tratado de San Stefano. Os Jovens Turcos, um movimento nacionalista reformista que chegou ao poder após um golpe de Estado em 1908, foram inicialmente vistos como uma fonte de esperança para as minorias do Império Otomano. No entanto, uma fação radical deste movimento acabou por adotar uma política ainda mais agressiva e nacionalista do que a dos seus antecessores. Convencidos da necessidade de criar um Estado turco homogéneo, viam os arménios e outras minorias não turcas como obstáculos à sua visão nacional. A discriminação sistemática contra os arménios aumentou, alimentada por acusações de traição e de conluio com os inimigos do Império, nomeadamente a Rússia. Esta atmosfera de suspeição e ódio criou o terreno fértil para o genocídio que teve início em 1915. Um dos primeiros actos desta campanha genocida foi a prisão e o assassinato de intelectuais e líderes arménios em Constantinopla, a 24 de abril de 1915, data que é hoje comemorada como o início do genocídio arménio.
Seguiram-se deportações em massa, marchas da morte para o deserto da Síria e massacres, estimando-se que tenham sido mortos cerca de 1,5 milhões de arménios. Para além das marchas da morte, há relatos de arménios que foram obrigados a embarcar em navios que foram intencionalmente afundados no Mar Negro. Perante estes horrores, alguns arménios converteram-se ao Islão para sobreviver, enquanto outros se esconderam ou foram protegidos por vizinhos simpáticos, incluindo curdos. Ao mesmo tempo, a população assíria também sofreu atrocidades semelhantes entre 1914 e 1920. Enquanto millet, ou comunidade autónoma reconhecida pelo Império Otomano, os assírios deveriam ter gozado de alguma proteção. No entanto, no contexto da Primeira Guerra Mundial e do nacionalismo turco, foram alvo de campanhas de extermínio sistemáticas. Estes trágicos acontecimentos mostram como a discriminação, a desumanização e o extremismo podem conduzir a actos de violência em massa. O genocídio arménio e os massacres dos assírios são capítulos negros da história que sublinham a importância da memória, do reconhecimento e da prevenção do genocídio para garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam.
Para a República da Turquia e a negação do genocídio[modifier | modifier le wikicode]
A ocupação de Istambul pelos Aliados em 1919 e a instauração de um tribunal marcial para julgar os oficiais otomanos responsáveis pelas atrocidades cometidas durante a guerra constituíram uma tentativa de fazer justiça pelos crimes cometidos, em especial o genocídio arménio. No entanto, a situação na Anatólia continuava instável e complexa. O movimento nacionalista na Turquia, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, cresceu rapidamente em resposta aos termos do Tratado de Sèvres de 1920, que desmembrou o Império Otomano e impôs severas sanções à Turquia. Os kemalistas rejeitaram o tratado como uma humilhação e uma ameaça à soberania e à integridade territorial da Turquia.
Um dos pontos de discórdia era a questão das populações ortodoxas gregas na Turquia, que estavam protegidas pelas disposições do tratado, mas que estavam em causa no conflito greco-turco. As tensões entre as comunidades grega e turca deram origem a actos de violência em grande escala e a trocas de populações, agravadas pela guerra entre a Grécia e a Turquia de 1919 a 1922. Mustafa Kemal, que tinha sido um membro proeminente dos Jovens Turcos e ganhou fama como defensor dos Dardanelos durante a Primeira Guerra Mundial, é por vezes citado como tendo descrito o genocídio arménio como um "ato vergonhoso". No entanto, estas afirmações são objeto de controvérsia e de debate histórico. A posição oficial de Kemal e da nascente República da Turquia sobre o genocídio foi a de o negar e de o atribuir a circunstâncias de guerra e a distúrbios civis, e não a uma política deliberada de extermínio.
Durante a resistência pela Anatólia e a luta pela instauração da República da Turquia, Mustafa Kemal e os seus apoiantes concentraram-se na construção de um Estado-nação turco unificado, tendo sido evitado qualquer reconhecimento de acontecimentos passados que pudessem ter dividido ou enfraquecido este projeto nacional. O período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi, portanto, marcado por grandes mudanças políticas, tentativas de justiça pós-conflito e a emergência de novos Estados-nação na região, com a nascente República da Turquia a procurar definir a sua própria identidade e política independentemente do legado otomano.
A fundação da Turquia[modifier | modifier le wikicode]
O Tratado de Lausana e a Nova Realidade Política (1923)[modifier | modifier le wikicode]
O Tratado de Lausana, assinado em 24 de julho de 1923, marcou um ponto de viragem decisivo na história contemporânea da Turquia e do Médio Oriente. Após o fracasso do Tratado de Sèvres, devido sobretudo à resistência nacional turca liderada por Mustafa Kemal Atatürk, os Aliados viram-se obrigados a renegociar. Exaustas pela guerra e confrontadas com a realidade de uma Turquia determinada a defender a sua integridade territorial, as potências aliadas tiveram de reconhecer a nova realidade política estabelecida pelos nacionalistas turcos. O Tratado de Lausana estabeleceu as fronteiras internacionalmente reconhecidas da moderna República da Turquia e anulou as disposições do Tratado de Sèvres, que previam a criação de um Estado curdo e reconheciam um certo grau de proteção aos arménios. Ao não prever a criação de um Curdistão nem medidas a favor dos arménios, o Tratado de Lausana fechou a porta à "questão curda" e à "questão arménia" a nível internacional, deixando estas questões por resolver.
Ao mesmo tempo, o tratado formalizou a troca de populações entre a Grécia e a Turquia, o que levou à "expulsão dos gregos dos territórios turcos", um episódio doloroso marcado pela deslocação forçada de populações e pelo fim de comunidades históricas na Anatólia e na Trácia. Após a assinatura do Tratado de Lausanne, o Comité de União e Progresso (CUP), mais conhecido por Jovens Turcos, que tinha estado no poder durante a Primeira Guerra Mundial, foi oficialmente dissolvido. Vários dos seus líderes foram para o exílio e alguns foram assassinados em retaliação pelo seu papel no genocídio arménio e pelas políticas destrutivas da guerra.
Nos anos que se seguiram, consolidou-se a República da Turquia e surgiram várias associações nacionalistas com o objetivo de defender a soberania e a integridade da Anatólia. A religião desempenhou um papel importante na construção da identidade nacional, sendo frequentemente estabelecida uma distinção entre o "Ocidente cristão" e a "Anatólia muçulmana". Este discurso foi utilizado para reforçar a coesão nacional e para justificar a resistência contra qualquer influência ou intervenção estrangeira considerada uma ameaça para a nação turca. O Tratado de Lausana é, por conseguinte, considerado a pedra angular da moderna República da Turquia e o seu legado continua a moldar a política interna e externa da Turquia, bem como as suas relações com os seus vizinhos e com as comunidades minoritárias dentro das suas fronteiras.
A chegada de Mustafa Kemal Atatürk e a Resistência Nacional Turca (1919)[modifier | modifier le wikicode]
A chegada de Mustafa Kemal Atatürk à Anatólia, em maio de 1919, marcou o início de uma nova fase na luta pela independência e soberania da Turquia. Opondo-se à ocupação aliada e aos termos do Tratado de Sèvres, estabeleceu-se como líder da resistência nacional turca. Nos anos que se seguiram, Mustafa Kemal liderou várias campanhas militares cruciais. Lutou em várias frentes: contra os arménios, em 1921, contra os franceses no sul da Anatólia, para redefinir as fronteiras, e contra os gregos, que tinham ocupado a cidade de Esmirna em 1919 e avançado para a Anatólia ocidental. Estes conflitos foram elementos-chave do movimento nacionalista turco para estabelecer um novo Estado-nação sobre as ruínas do Império Otomano. A estratégia britânica na região era complexa. Perante a possibilidade de um conflito mais vasto entre gregos e turcos, por um lado, e turcos e britânicos, por outro, a Grã-Bretanha viu vantagem em deixar os gregos e os turcos lutarem entre si, o que lhe permitiria concentrar os seus esforços noutros locais, nomeadamente no Iraque, um território rico em petróleo e estrategicamente importante.
A guerra greco-turca culminou com a vitória turca e a retirada grega da Anatólia em 1922, o que resultou na catástrofe da Ásia Menor para a Grécia e numa importante vitória das forças nacionalistas turcas. A campanha militar vitoriosa de Mustafa Kemal permitiu renegociar os termos do Tratado de Sèvres e levou à assinatura do Tratado de Lausana em 1923, que reconheceu a soberania da República da Turquia e redefiniu as suas fronteiras. Em simultâneo com o Tratado de Lausana, foi elaborada uma convenção para a troca de populações entre a Grécia e a Turquia. Esta convenção levou à troca forçada de populações ortodoxas gregas e muçulmanas turcas entre os dois países, com o objetivo de criar Estados etnicamente mais homogéneos. Após ter repelido as forças francesas, concluído acordos fronteiriços e assinado o Tratado de Lausana, Mustafa Kemal proclamou a República da Turquia em 29 de outubro de 1923, tornando-se o seu primeiro presidente. A proclamação da República marcou o culminar dos esforços de Mustafa Kemal para fundar um Estado turco moderno, secular e nacionalista sobre os restos do Império Otomano, multiétnico e multiconfessional.
Formação das fronteiras e as questões de Mosul e Antioquia[modifier | modifier le wikicode]
Após a conclusão do Tratado de Lausana em 1923, que assinalou o reconhecimento internacional da República da Turquia e redefiniu as suas fronteiras, subsistiam ainda questões fronteiriças por resolver, nomeadamente no que se refere à cidade de Antioquia e à região de Mosul. Estas questões exigiram novas negociações e a intervenção de organizações internacionais para serem resolvidas. A cidade de Antioquia, situada na região historicamente rica e culturalmente diversa do sul da Anatólia, era objeto de contenda entre a Turquia e a França, que exercia um mandato sobre a Síria, incluindo Antioquia. A cidade, com o seu passado multicultural e a sua importância estratégica, era um ponto de tensão entre os dois países. Após negociações, Antioquia acabou por ser atribuída à Turquia, embora a decisão tenha sido fonte de polémica e tensão. A questão da região de Mossul era ainda mais complexa. Rica em petróleo, a região de Mossul era reivindicada tanto pela Turquia como pela Grã-Bretanha, que tinha um mandato sobre o Iraque. A Turquia, com base em argumentos históricos e demográficos, pretendia incluí-la nas suas fronteiras, enquanto a Grã-Bretanha apoiava a sua inclusão no Iraque por razões estratégicas e económicas, em especial devido à presença de petróleo.
A Liga das Nações, precursora das Nações Unidas, interveio para resolver o diferendo. Após uma série de negociações, chegou-se a um acordo em 1925. Nos termos deste acordo, a região de Mossul passaria a fazer parte do Iraque, mas a Turquia receberia uma compensação financeira, nomeadamente sob a forma de uma parte das receitas do petróleo. O acordo estipulava igualmente que a Turquia deveria reconhecer oficialmente o Iraque e as suas fronteiras. Esta decisão foi crucial para a estabilização das relações entre a Turquia, o Iraque e a Grã-Bretanha e desempenhou um papel importante na definição das fronteiras do Iraque, influenciando a evolução futura no Médio Oriente. Estas negociações e os acordos daí resultantes ilustram a complexidade da dinâmica do Médio Oriente após a Primeira Guerra Mundial. Mostram como as fronteiras modernas da região foram moldadas por uma mistura de reivindicações históricas, considerações estratégicas e económicas e intervenções internacionais, reflectindo frequentemente os interesses das potências coloniais e não os das populações locais.
As reformas radicais de Mustafa Kemal Atatürk[modifier | modifier le wikicode]
O período pós-Primeira Guerra Mundial na Turquia foi marcado por reformas e transformações radicais lideradas por Mustafa Kemal Atatürk, que procurou modernizar e secularizar a nova República da Turquia. Em 1922, foi dado um passo crucial com a abolição do sultanato otomano pelo parlamento turco, uma decisão que pôs termo a séculos de domínio imperial e consolidou o poder político em Ancara, a nova capital da Turquia. O ano de 1924 assistiu a outra grande reforma com a abolição do Califado. Esta decisão eliminou a liderança religiosa e política islâmica que tinha caracterizado o Império Otomano e representou um passo decisivo para a secularização do Estado. Paralelamente a esta abolição, o governo turco criou a Diyanet, ou Presidência dos Assuntos Religiosos, uma instituição destinada a supervisionar e a regular os assuntos religiosos no país. O objetivo desta organização era colocar os assuntos religiosos sob o controlo do Estado e garantir que a religião não fosse utilizada para fins políticos. Mustafa Kemal implementou então uma série de reformas destinadas a modernizar a Turquia, frequentemente designadas por "modernização autoritária". Estas reformas incluíram a secularização do ensino, a reforma do código de vestuário, a adoção do calendário gregoriano e a introdução do direito civil em substituição do direito religioso islâmico.
No âmbito da criação de um Estado-nação turco homogéneo, foram adoptadas políticas de assimilação para as minorias e os diferentes grupos étnicos. Estas políticas incluíam a criação de apelidos turcos para todos os cidadãos, o incentivo à adoção da língua e da cultura turcas e o encerramento das escolas religiosas. Estas medidas tinham como objetivo unificar a população sob uma identidade turca comum, mas também levantaram questões de direitos culturais e de autonomia para as minorias. Estas reformas radicais transformaram a sociedade turca e lançaram as bases da Turquia moderna. Reflectiram o desejo de Mustafa Kemal de criar um Estado moderno, secular e unitário, ao mesmo tempo que navegava no complexo contexto das aspirações nacionalistas do pós-guerra. Estas mudanças tiveram um efeito profundo na história da Turquia e continuam a influenciar a política e a sociedade turcas actuais.
O período das décadas de 1920 e 1930 na Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, caracterizou-se por uma série de reformas radicais destinadas a modernizar e ocidentalizar o país. Estas reformas afectaram quase todos os aspectos da vida social, cultural e política turca. Uma das primeiras medidas foi a criação do Ministério da Educação, que desempenhou um papel central na reforma do sistema educativo e na promoção da ideologia kemalista. Em 1925, uma das reformas mais emblemáticas foi a imposição do chapéu europeu, em substituição do tradicional fez, no âmbito de uma política de modernização da aparência e do vestuário dos cidadãos turcos.
As reformas jurídicas também foram significativas, com a adoção de códigos jurídicos inspirados em modelos ocidentais, nomeadamente o código civil suíço. O objetivo destas reformas era substituir o sistema jurídico otomano, baseado na Sharia (lei islâmica), por um sistema jurídico moderno e secular. A Turquia adoptou igualmente o sistema métrico, o calendário gregoriano e mudou o seu dia de descanso da sexta-feira (tradicionalmente observado nos países muçulmanos) para o domingo, aproximando o país dos padrões ocidentais. Uma das reformas mais radicais foi a mudança do alfabeto, em 1928, do árabe para uma escrita latina modificada. O objetivo desta reforma era aumentar a literacia e modernizar a língua turca. O Instituto de História Turca, criado em 1931, fazia parte de um esforço mais alargado de reinterpretação da história turca e de promoção da identidade nacional turca. No mesmo espírito, a política de purificação da língua turca tinha por objetivo eliminar os empréstimos do árabe e do persa e reforçar a teoria da "Língua do Sol", uma ideologia nacionalista que afirmava a origem antiga e a superioridade da língua e da cultura turcas.
Relativamente à questão curda, o governo kemalista prosseguiu uma política de assimilação, considerando os curdos como "turcos das montanhas" e tentando integrá-los na identidade nacional turca. Esta política deu origem a tensões e conflitos, nomeadamente durante a repressão das populações curdas e não muçulmanas em 1938. O período kemalista foi uma época de profundas transformações para a Turquia, marcada pelos esforços para criar um Estado-nação moderno, secular e homogéneo. No entanto, estas reformas, embora progressivas na sua intenção de modernização, foram também acompanhadas de políticas autoritárias e de esforços de assimilação que deixaram um legado complexo e por vezes controverso na Turquia contemporânea.
O período kemalista na Turquia, que teve início com a fundação da República em 1923, caracterizou-se por uma série de reformas destinadas a centralizar, nacionalizar e secularizar o Estado, bem como a europeizar a sociedade. Estas reformas, lideradas por Mustafa Kemal Atatürk, tinham como objetivo romper com o passado imperial e islâmico do Império Otomano, que era visto como um obstáculo ao progresso e à modernização. O objetivo era criar uma Turquia moderna, alinhada com os valores e normas ocidentais. Nesta perspetiva, a herança otomana e islâmica era frequentemente retratada de forma negativa, associada ao atraso e ao obscurantismo. A viragem para o Ocidente era evidente na política, na cultura, no direito, na educação e até na vida quotidiana.
Multipartidarismo e as tensões entre modernização e tradição (pós-1950)[modifier | modifier le wikicode]
No entanto, com a chegada de um sistema multipartidário na década de 1950, o panorama político turco começou a mudar. A Turquia, que funcionava como um Estado de partido único sob a égide do Partido Republicano do Povo (CHP), começou a abrir-se ao pluralismo político. Esta transição não foi isenta de tensões. Os conservadores, que tinham sido frequentemente marginalizados durante o período kemalista, começaram a questionar algumas das reformas kemalistas, nomeadamente as que diziam respeito ao secularismo e à ocidentalização. O debate entre o secularismo e os valores tradicionais, entre a ocidentalização e a identidade turca e islâmica, tornou-se um tema recorrente na política turca. Os partidos conservadores e islamistas ganharam terreno, questionando a herança kemalista e apelando ao regresso a certos valores tradicionais e religiosos.
Esta dinâmica política conduziu, por vezes, à repressão e à tensão, uma vez que os diferentes governos procuram consolidar o seu poder num ambiente político cada vez mais diversificado. Os períodos de tensão e repressão política, nomeadamente durante os golpes militares de 1960, 1971, 1980 e a tentativa de golpe de Estado de 2016, testemunham os desafios que a Turquia enfrentou na sua tentativa de encontrar um equilíbrio entre modernização e tradição, secularismo e religiosidade, ocidentalização e identidade turca. No período pós-1950, a Turquia assistiu a um reequilíbrio complexo e por vezes conflituoso entre a herança kemalista e as aspirações de uma parte da população a um regresso aos valores tradicionais, reflectindo as tensões permanentes entre modernidade e tradição na sociedade turca contemporânea.
A Turquia e os seus desafios internos: gerir a diversidade étnica e religiosa[modifier | modifier le wikicode]
A Turquia, enquanto aliado estratégico do Ocidente, especialmente desde a sua adesão à NATO em 1952, teve de conciliar as suas relações com o Ocidente com a sua própria dinâmica política interna. O sistema multipartidário introduzido na década de 1950 foi um elemento-chave desta reconciliação, reflectindo uma transição para uma forma de governação mais democrática. No entanto, esta transição foi marcada por períodos de instabilidade e de intervenção militar. De facto, a Turquia foi palco de vários golpes militares, aproximadamente de dez em dez anos, nomeadamente em 1960, 1971, 1980 e uma tentativa em 2016. Estes golpes foram frequentemente justificados pelos militares como sendo necessários para restaurar a ordem e proteger os princípios da República Turca, nomeadamente o kemalismo e o secularismo. Após cada golpe de Estado, o exército convocava geralmente novas eleições para regressar ao poder civil, embora continuasse a desempenhar o papel de guardião da ideologia kemalista.
No entanto, a partir da década de 2000, o panorama político turco sofreu uma mudança significativa com a ascensão de partidos conservadores e islamistas, nomeadamente o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP). Sob a liderança de Recep Tayyip Erdoğan, o AKP ganhou várias eleições e manteve o poder durante um longo período. O governo do AKP, apesar de defender valores mais conservadores e islâmicos, não foi derrubado pelos militares. Este facto representa uma mudança em relação às décadas anteriores, em que os governos que se desviavam dos princípios kemalistas eram frequentemente alvo de intervenções militares. Esta relativa estabilidade do governo conservador na Turquia sugere um reequilíbrio do poder entre os partidos políticos militares e civis. Este facto pode ser atribuído a uma série de reformas destinadas a reduzir o poder político do exército, bem como a uma mudança de atitude da população turca, que se tornou cada vez mais recetiva a uma governação que reflicta valores conservadores e islâmicos. A dinâmica política da Turquia contemporânea reflecte os desafios de um país que navega entre a sua herança secular kemalista e as crescentes tendências conservadoras e islamistas, mantendo simultaneamente o seu empenhamento no multipartidarismo e nas alianças ocidentais.
A Turquia moderna tem enfrentado vários desafios internos, incluindo a gestão da sua diversidade étnica e religiosa. As políticas de assimilação, nomeadamente em relação à população curda, desempenharam um papel importante no reforço do nacionalismo turco. Esta situação deu origem a tensões e conflitos, nomeadamente com a minoria curda, que não beneficiou do estatuto de millet (comunidade autónoma) concedido a certas minorias religiosas durante o Império Otomano. A influência do antissemitismo e do racismo europeus durante o século XX teve igualmente um impacto na Turquia. Na década de 1930, as ideias discriminatórias e xenófobas, influenciadas pelas correntes políticas e sociais da Europa, começaram a manifestar-se na Turquia. Esta situação conduziu a acontecimentos trágicos, como os pogroms contra os judeus na Trácia, em 1934, em que as comunidades judaicas foram alvo de ataques e obrigadas a fugir das suas casas.
Além disso, a Lei do Imposto sobre a Riqueza (Varlık Vergisi), introduzida em 1942, foi outra medida discriminatória que afectou principalmente as minorias não turcas e não muçulmanas, incluindo os judeus, os arménios e os gregos. Esta lei impunha impostos exorbitantes sobre a riqueza, desproporcionadamente elevados para os não muçulmanos, e aqueles que não podiam pagar eram enviados para campos de trabalho, nomeadamente em Aşkale, no leste da Turquia. Estas políticas e acontecimentos reflectiam as tensões étnicas e religiosas existentes na sociedade turca e um período em que o nacionalismo turco era por vezes interpretado de forma exclusiva e discriminatória. Também puseram em evidência a complexidade do processo de formação de um Estado-nação numa região tão diversa como a Anatólia, onde coexistiam vários grupos étnicos e religiosos. O tratamento das minorias na Turquia durante este período continua a ser um tema sensível e controverso, reflectindo os desafios que o país enfrentou na procura de uma identidade nacional unificada, gerindo simultaneamente a sua diversidade interna. Estes acontecimentos tiveram também um impacto a longo prazo nas relações entre os diferentes grupos étnicos e religiosos da Turquia.
Separação entre secularização e secularismo: o legado do período kemalista[modifier | modifier le wikicode]
A distinção entre secularização e secularismo é importante para compreender as dinâmicas sociais e políticas em vários contextos históricos e geográficos. A secularização refere-se a um processo histórico e cultural em que as sociedades, as instituições e os indivíduos começam a desligar-se da influência e das normas religiosas. Numa sociedade secularizada, a religião perde gradualmente a sua influência na vida pública, nas leis, na educação, na política e noutras áreas. Este processo não significa necessariamente que os indivíduos se tornam menos religiosos a nível pessoal, mas sim que a religião se torna um assunto privado, separado dos assuntos públicos e do Estado. A secularização está frequentemente associada à modernização, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à alteração das normas sociais. O secularismo, por outro lado, é uma política institucional e jurídica através da qual um Estado se declara neutro em matéria de religião. Trata-se de uma decisão de separar o Estado das instituições religiosas, assegurando que as decisões governamentais e as políticas públicas não são influenciadas por doutrinas religiosas específicas. O secularismo pode coexistir com uma sociedade profundamente religiosa; trata-se sobretudo da forma como o Estado gere a sua relação com as diferentes religiões. Em teoria, o laicismo tem por objetivo garantir a liberdade de religião, tratando todas as religiões de forma igual e evitando o favoritismo em relação a qualquer religião específica.
Os exemplos históricos e contemporâneos mostram diferentes combinações destes dois conceitos. Por exemplo, alguns países europeus sofreram uma secularização significativa, mantendo ao mesmo tempo laços oficiais entre o Estado e certas igrejas (como o Reino Unido com a Igreja de Inglaterra). Por outro lado, países como a França adoptaram uma política rigorosa de laicidade, apesar de serem historicamente sociedades fortemente imbuídas de tradições religiosas. Na Turquia, o período kemalista assistiu à introdução de uma forma rigorosa de secularismo com a separação entre a mesquita e o Estado, ao mesmo tempo que se vivia numa sociedade em que a religião muçulmana continuava a desempenhar um papel significativo na vida privada das pessoas. A política de secularismo kemalista tinha como objetivo modernizar e unificar a Turquia, inspirando-se nos modelos ocidentais, ao mesmo tempo que navegava no contexto complexo de uma sociedade com uma longa história de organização social e política em torno do Islão.
O período pós-Segunda Guerra Mundial na Turquia foi marcado por uma série de incidentes que exacerbaram as tensões étnicas e religiosas no país, afectando particularmente as minorias. Entre estes incidentes, o bombardeamento do local de nascimento de Mustafa Kemal Atatürk em Salónica (então na Grécia), em 1955, serviu de catalisador para um dos acontecimentos mais trágicos da história turca moderna: os pogroms de Istambul. Os pogroms de Istambul, também conhecidos como os acontecimentos de 6 e 7 de setembro de 1955, foram uma série de ataques violentos dirigidos principalmente contra a comunidade grega da cidade, mas também contra outras minorias, nomeadamente arménios e judeus. Estes ataques foram desencadeados por rumores sobre o bombardeamento do local de nascimento de Atatürk e foram exacerbados por sentimentos nacionalistas e anti-minoritários. Os motins provocaram a destruição maciça de bens, a violência e a deslocação de muitas pessoas.
Este acontecimento marcou um ponto de viragem na história das minorias na Turquia, conduzindo a uma diminuição significativa da população grega de Istambul e a um sentimento geral de insegurança entre as outras minorias. Os pogroms de Istambul revelaram também as tensões subjacentes na sociedade turca relativamente a questões de identidade nacional, diversidade étnica e religiosa e os desafios da manutenção da harmonia num Estado-nação diversificado. Desde então, a proporção de minorias étnicas e religiosas na Turquia diminuiu consideravelmente devido a uma série de factores, incluindo a emigração, as políticas de assimilação e, por vezes, as tensões e os conflitos intercomunitários. Embora a Turquia moderna se tenha esforçado por promover uma imagem de sociedade tolerante e diversificada, o legado destes acontecimentos históricos continua a influenciar as relações entre as diferentes comunidades e a política do Estado em relação às minorias. A situação das minorias na Turquia continua a ser uma questão sensível, que ilustra os desafios enfrentados por muitos Estados na gestão da diversidade e na preservação dos direitos e da segurança de todas as comunidades dentro das suas fronteiras.
Os Alevitas[modifier | modifier le wikicode]
O Impacto da Fundação da República da Turquia nos Alevis (1923)[modifier | modifier le wikicode]
A criação da República da Turquia em 1923 e as reformas secularistas iniciadas por Mustafa Kemal Atatürk tiveram um impacto significativo em vários grupos religiosos e étnicos da Turquia, incluindo a comunidade Alevi. Os alevitas, um grupo religioso e cultural distinto no seio do Islão, que pratica uma forma de crença diferente da corrente dominante do sunismo, acolheram a fundação da República Turca com um certo otimismo. A promessa de secularismo e secularização oferecia a esperança de uma maior igualdade e liberdade religiosa, em comparação com o período do Império Otomano, em que tinham sido frequentemente objeto de discriminação e, por vezes, de violência.
No entanto, com a criação da Direção dos Assuntos Religiosos (Diyanet) após a abolição do Califado em 1924, o governo turco procurou regular e controlar os assuntos religiosos. Embora a Diyanet tenha sido concebida para exercer o controlo do Estado sobre a religião e promover um Islão compatível com os valores republicanos e seculares, na prática tem favorecido frequentemente o Islão sunita, que é o ramo maioritário na Turquia. Esta política causou problemas à comunidade alevita, que se sentiu marginalizada pela promoção pelo Estado de uma forma de Islão que não corresponde às suas crenças e práticas religiosas. Embora a situação dos alevitas durante a República Turca fosse muito melhor do que durante o Império Otomano, onde eram frequentemente perseguidos, continuaram a enfrentar desafios no que respeita ao seu reconhecimento e direitos religiosos.
Ao longo dos anos, os alevitas lutaram pelo reconhecimento oficial dos seus locais de culto (cemevis) e por uma representação justa nos assuntos religiosos. Apesar dos progressos realizados em termos de secularismo e de direitos civis na Turquia, a questão dos alevitas continua a ser uma questão importante, que reflecte os desafios mais vastos da Turquia na gestão da sua diversidade religiosa e étnica num quadro secular. A situação dos alevitas na Turquia é, por conseguinte, um exemplo da complexa relação entre o Estado, a religião e as minorias num contexto de modernização e secularização, ilustrando a forma como as políticas estatais podem influenciar a dinâmica social e religiosa de uma nação.
Envolvimento político dos alevitas na década de 1960[modifier | modifier le wikicode]
Na década de 1960, a Turquia viveu um período de mudanças políticas e sociais significativas, com o aparecimento de vários partidos e movimentos políticos que representavam uma série de pontos de vista e interesses. Foi uma época de dinamismo político, marcada por uma maior expressão de identidades e reivindicações políticas, incluindo as de grupos minoritários como os alevitas. A criação do primeiro partido político alevita durante este período foi um desenvolvimento importante, reflectindo uma vontade crescente por parte desta comunidade de se envolver no processo político e defender os seus interesses específicos. Os alevitas, com as suas crenças e práticas distintas, têm procurado frequentemente promover um maior reconhecimento e respeito pelos seus direitos religiosos e culturais. No entanto, também é verdade que outros partidos políticos, nomeadamente os de esquerda ou comunistas, responderam às exigências do eleitorado curdo e alevita. Ao promoverem ideias de justiça social, igualdade e direitos das minorias, estes partidos atraíram um apoio significativo destas comunidades. As questões relacionadas com os direitos das minorias, a justiça social e o secularismo estiveram frequentemente no centro das suas plataformas políticas, o que se repercutiu nas preocupações dos alevitas e dos curdos.
No contexto da Turquia dos anos 60, marcado por uma tensão política crescente e por divisões ideológicas, os partidos de esquerda eram frequentemente vistos como defensores da classe baixa, das minorias e dos grupos marginalizados. Isto conduziu a uma situação em que os partidos políticos alevitas, embora representassem diretamente esta comunidade, eram por vezes ofuscados por partidos mais amplos e estabelecidos que abordavam questões mais vastas de justiça social e igualdade. Assim, a política turca deste período reflectiu uma diversidade e complexidade crescentes de identidades e filiações políticas, ilustrando a forma como as questões dos direitos das minorias, da justiça social e da identidade desempenharam um papel central na paisagem política emergente da Turquia.
Alevis enfrentando o extremismo e a violência nos anos 70 e 80[modifier | modifier le wikicode]
Os anos 70 foram um período de grande tensão social e política na Turquia, marcado por uma polarização crescente e pela emergência de grupos extremistas. Durante este período, a extrema-direita turca, representada em parte por grupos nacionalistas e ultranacionalistas, ganhou visibilidade e influência. Este aumento do extremismo teve consequências trágicas, nomeadamente para as comunidades minoritárias, como os alevitas. Os alevitas, devido às suas crenças e práticas distintas do Islão sunita maioritário, têm sido frequentemente visados por grupos ultranacionalistas e conservadores. Estes grupos, alimentados por ideologias nacionalistas e, por vezes, sectárias, levaram a cabo ataques violentos contra as comunidades alevitas, incluindo massacres e pogroms. Os incidentes mais notórios incluem os massacres de Maraş, em 1978, e de Çorum, em 1980. Estes acontecimentos caracterizaram-se por uma violência extrema, assassínios em massa e outras atrocidades, incluindo cenas de decapitação e mutilação. Estes ataques não foram incidentes isolados, mas sim parte de uma tendência mais alargada de violência e discriminação contra os alevitas, que exacerbou as divisões e tensões sociais na Turquia.
A violência da década de 1970 e do início da década de 1980 contribuiu para a instabilidade que conduziu ao golpe militar de 1980. Na sequência do golpe, o exército instaurou um regime que reprimiu muitos grupos políticos, incluindo a extrema-direita e a extrema-esquerda, numa tentativa de restabelecer a ordem e a estabilidade. No entanto, os problemas subjacentes de discriminação e tensão entre as diferentes comunidades mantiveram-se, colocando desafios permanentes à coesão social e política da Turquia. A situação dos alevitas na Turquia é, por conseguinte, um exemplo pungente das dificuldades enfrentadas pelas minorias religiosas e étnicas num contexto de polarização política e de extremismo crescente. Sublinha igualmente a necessidade de uma abordagem inclusiva que respeite os direitos de todas as comunidades, a fim de manter a paz social e a unidade nacional.
As Tragédias de Sivas e Gazi na década de 1990[modifier | modifier le wikicode]
A década de 1990 na Turquia continuou a ser marcada por tensões e violência, em especial contra a comunidade alevita, que foi alvo de vários ataques trágicos. Em 1993, um acontecimento particularmente chocante ocorreu em Sivas, uma cidade no centro da Turquia. Em 2 de julho de 1993, durante o festival cultural Pir Sultan Abdal, um grupo de intelectuais, artistas e escritores alevitas, bem como espectadores, foram atacados por uma multidão extremista. O Hotel Madımak, onde se encontravam, foi incendiado, resultando na morte de 37 pessoas. Este incidente, conhecido como o massacre de Sivas ou tragédia de Madımak, foi um dos acontecimentos mais negros da história moderna da Turquia e pôs em evidência a vulnerabilidade dos alevitas ao extremismo e à intolerância religiosa. Dois anos mais tarde, em 1995, ocorreu outro incidente violento no bairro de Gazi, em Istambul, uma zona com uma grande população alevita. Os violentos confrontos eclodiram depois de um atirador desconhecido ter disparado contra cafés frequentados por alevitas, matando uma pessoa e ferindo várias outras. Os dias seguintes foram marcados por tumultos e confrontos com a polícia, que causaram muitas mais vítimas.
Estes incidentes exacerbaram as tensões entre a comunidade alevita e o Estado turco e puseram em evidência a persistência de preconceitos e de discriminação contra os alevitas. Levantaram também questões sobre a proteção das minorias na Turquia e a capacidade do Estado para garantir a segurança e a justiça a todos os seus cidadãos. A violência em Sivas e Gazi marcou um ponto de viragem na consciencialização da situação dos alevitas na Turquia, levando a apelos mais fortes ao reconhecimento dos seus direitos e a uma maior compreensão e respeito pela sua identidade cultural e religiosa única. Estes trágicos acontecimentos permanecem gravados na memória colectiva da Turquia, simbolizando os desafios que o país enfrenta em termos de diversidade religiosa e de coexistência pacífica.
Os alevitas na era do AKP: desafios e conflitos de identidade[modifier | modifier le wikicode]
Desde que o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdoğan, chegou ao poder em 2002, a Turquia assistiu a mudanças significativas na sua política em relação ao Islão e às minorias religiosas, incluindo a comunidade alevita. O AKP, muitas vezes visto como um partido com tendências islamistas ou conservadoras, tem sido criticado por favorecer o Islão sunita, o que suscita preocupações entre as minorias religiosas, nomeadamente os alevitas. Durante o mandato do AKP, o governo reforçou o papel da Diyanet (Presidência dos Assuntos Religiosos), que foi acusada de promover uma versão sunita do Islão. Este facto causou problemas à comunidade alevita, que pratica uma forma de Islão muito diferente do sunismo dominante. Os alevitas não frequentam as mesquitas tradicionais para prestar culto; em vez disso, utilizam os "cemevi" para as suas cerimónias e reuniões religiosas. No entanto, o Diyanet não reconhece oficialmente os cemevi como locais de culto, o que tem sido uma fonte de frustração e conflito para os alevitas. A questão da assimilação é também motivo de preocupação para os alevitas, uma vez que o Governo tem sido visto como estando a tentar integrar todas as comunidades religiosas e étnicas numa identidade turca sunita homogénea. Esta política faz lembrar os esforços de assimilação da era kemalista, embora as motivações e os contextos sejam diferentes.
Os alevitas são um grupo étnica e linguisticamente diverso, com membros de língua turca e curda. Embora a sua identidade seja em grande parte definida pela sua fé distinta, partilham também aspectos culturais e linguísticos com outros turcos e curdos. No entanto, a sua prática religiosa única e o seu historial de marginalização distinguem-nos na sociedade turca. A situação dos alevitas na Turquia desde 2002 reflecte as tensões persistentes entre o Estado e as minorias religiosas. Levanta questões importantes sobre a liberdade religiosa, os direitos das minorias e a capacidade do Estado para acolher a diversidade num quadro secular e democrático. A forma como a Turquia gere estas questões continua a ser um aspeto crucial da sua política interna e da sua imagem na cena internacional.
Irão[modifier | modifier le wikicode]
Desafios e influências externas no início do século XX[modifier | modifier le wikicode]
A história da modernização do Irão é um estudo de caso fascinante sobre a forma como as influências externas e a dinâmica interna podem moldar o rumo de um país. No início do século XX, o Irão (então conhecido como Pérsia) enfrentou vários desafios que culminaram num processo de modernização autoritária. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, em especial em 1907, o Irão esteve à beira da implosão. O país tinha sofrido perdas territoriais significativas e debatia-se com uma fraqueza administrativa e militar. O exército iraniano, em particular, era incapaz de gerir eficazmente a influência do Estado ou de proteger as suas fronteiras de incursões estrangeiras. Este contexto difícil foi exacerbado pelos interesses concorrentes das potências imperialistas, nomeadamente da Grã-Bretanha e da Rússia. Em 1907, apesar das suas rivalidades históricas, a Grã-Bretanha e a Rússia concluíram a Entente Anglo-Russa. Nos termos deste acordo, partilhavam esferas de influência no Irão, com a Rússia a dominar o norte e a Grã-Bretanha o sul. Este acordo constituiu um reconhecimento tácito dos respectivos interesses imperialistas na região e teve um profundo impacto na política iraniana.
A Entente Anglo-Russa não só limitou a soberania do Irão, como também impediu o desenvolvimento de um poder central forte. A Grã-Bretanha, em particular, estava reticente quanto à ideia de um Irão centralizado e poderoso que pudesse ameaçar os seus interesses, nomeadamente em termos de acesso ao petróleo e de controlo das rotas comerciais. Este quadro internacional colocou grandes desafios ao Irão e influenciou o seu percurso de modernização. A necessidade de navegar entre os interesses imperialistas estrangeiros e as necessidades internas de reformar e reforçar o Estado conduziu a uma série de tentativas de modernização, algumas mais autoritárias do que outras, ao longo do século XX. Estes esforços culminaram no período do reinado de Reza Shah Pahlavi, que empreendeu um ambicioso programa de modernização e centralização, frequentemente por meios autoritários, com o objetivo de transformar o Irão num Estado-nação moderno.
O golpe de 1921 e a ascensão de Reza Khan[modifier | modifier le wikicode]
O golpe de 1921 no Irão, liderado por Reza Khan (mais tarde Reza Shah Pahlavi), foi um ponto de viragem decisivo na história moderna do país. Reza Khan, um oficial militar, assumiu o controlo do governo num contexto de fraqueza e instabilidade política, com a ambição de centralizar o poder e modernizar o Irão. Após o golpe, Reza Khan empreendeu uma série de reformas destinadas a reforçar o Estado e a consolidar o seu poder. Criou um governo centralizado, reorganizou a administração e modernizou o exército. Estas reformas foram essenciais para estabelecer uma estrutura estatal forte e eficaz, capaz de promover o desenvolvimento e a modernização do país. Um aspeto fundamental da consolidação do poder de Reza Khan foi a negociação de acordos com potências estrangeiras, nomeadamente a Grã-Bretanha, que tinha grandes interesses económicos e estratégicos no Irão. A questão do petróleo era particularmente crucial, uma vez que o Irão tinha um potencial petrolífero considerável e o controlo e a exploração deste recurso estavam no centro dos interesses geopolíticos.
Reza Khan navegou com sucesso nestas águas complexas, conseguindo um equilíbrio entre a cooperação com as potências estrangeiras e a proteção da soberania iraniana. Embora tivesse de fazer concessões, sobretudo no que se refere à exploração petrolífera, o seu governo esforçou-se por garantir que o Irão recebesse uma parte mais justa das receitas do petróleo e por limitar a influência estrangeira direta nos assuntos internos do país. Em 1925, Reza Khan foi coroado Reza Shah Pahlavi, tornando-se o primeiro Xá da dinastia Pahlavi. Durante o seu reinado, o Irão sofreu transformações radicais, incluindo a modernização da economia, a reforma do ensino, a ocidentalização das normas sociais e culturais e uma política de industrialização. Estas reformas, embora frequentemente levadas a cabo de forma autoritária, marcaram a entrada do Irão na era moderna e lançaram as bases para o desenvolvimento subsequente do país.
A era de Reza Xá Pahlavi: modernização e centralização[modifier | modifier le wikicode]
O advento de Reza Xá Pahlavi no Irão, em 1925, marcou uma mudança radical na paisagem política e social do país. Após a queda da dinastia Kadjar, Reza Shah, inspirado pelas reformas de Mustafa Kemal Atatürk na Turquia, iniciou uma série de transformações de grande alcance destinadas a modernizar o Irão e a transformá-lo num Estado-nação poderoso e centralizado. O seu reinado caracterizou-se por uma modernização autoritária, com o poder altamente concentrado e as reformas impostas de cima para baixo. A centralização do poder foi um passo crucial, tendo Reza Shah procurado eliminar os poderes intermédios tradicionais, como os chefes tribais e os notáveis locais. Esta consolidação da autoridade destinava-se a reforçar o governo central e a garantir um controlo mais apertado do país no seu conjunto. No âmbito dos seus esforços de modernização, introduziu também o sistema métrico, modernizou as redes de transportes com a construção de novas estradas e caminhos-de-ferro e procedeu a reformas culturais e de vestuário para alinhar o Irão pelas normas ocidentais.
Reza Xá também promoveu um forte nacionalismo, glorificando o passado imperial persa e a língua persa. Esta exaltação do passado iraniano pretendia criar um sentimento de unidade nacional e de identidade comum entre a população diversificada do Irão. No entanto, estas reformas tiveram um custo elevado em termos de liberdades individuais. O regime de Reza Shah foi marcado pela censura, pela repressão da liberdade de expressão e da dissidência política e pelo controlo rigoroso do aparelho político. No plano legislativo, foram introduzidos códigos civis e penais modernos e foram impostas reformas no vestuário para modernizar a aparência da população. Embora estas reformas tenham contribuído para a modernização do Irão, foram implementadas de forma autoritária, sem qualquer participação democrática significativa, o que lançou as sementes de futuras tensões. O período do Xá Reza foi, portanto, uma era de contradições no Irão. Por um lado, representou um salto significativo na modernização e centralização do país. Por outro lado, lançou as bases para futuros conflitos devido à sua abordagem autoritária e à ausência de canais de livre expressão política. Este período foi, portanto, decisivo na história moderna do Irão, moldando a sua trajetória política, social e económica para as décadas seguintes.
Mudança de nome: da Pérsia para o Irão[modifier | modifier le wikicode]
A mudança de nome da Pérsia para Irão, em dezembro de 1934, é um exemplo fascinante da forma como a política internacional e as influências ideológicas podem moldar a identidade nacional de um país. Sob o reinado de Reza Shah Pahlavi, a Pérsia, que tinha sido o nome histórico e ocidental do país, passou oficialmente a chamar-se Irão, um termo que há muito era utilizado no país e que significa "terra dos arianos". A mudança de nome foi, em parte, um esforço para reforçar os laços com o Ocidente e para realçar a herança ariana da nação, num contexto de emergência de ideologias nacionalistas e raciais na Europa. Nessa altura, a propaganda nazi tinha alguma ressonância em vários países do Médio Oriente, incluindo o Irão. Reza Shah, que procurava contrabalançar a influência britânica e soviética no Irão, via a Alemanha nazi como um potencial aliado estratégico. No entanto, a sua política de aproximação à Alemanha suscitou a preocupação dos Aliados, em especial da Grã-Bretanha e da União Soviética, que temiam a colaboração iraniana com a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
Devido a estas preocupações e ao papel estratégico do Irão como rota de trânsito para o abastecimento das forças soviéticas, o país tornou-se um ponto fulcral na guerra. Em 1941, as forças britânicas e soviéticas invadiram o Irão, forçando Reza Shah a abdicar em favor do seu filho, Mohammed Reza Pahlavi. Mohammed Reza, ainda jovem e inexperiente, subiu ao trono num contexto de tensões internacionais e de presença militar estrangeira. A invasão e ocupação do Irão pelos Aliados teve um profundo impacto no país, acelerando o fim da política de neutralidade do Xá Reza e dando início a uma nova era na história iraniana. Sob o reinado de Mohammed Reza Shah, o Irão tornou-se um aliado fundamental do Ocidente durante a Guerra Fria, embora esta tenha sido acompanhada por desafios internos e tensões políticas que acabariam por culminar na Revolução Iraniana de 1979.
Nacionalização do petróleo e queda de Mossadegh[modifier | modifier le wikicode]
O episódio da nacionalização do petróleo no Irão e a queda de Mohammad Mossadegh em 1953 constituem um capítulo crucial da história do Médio Oriente e revelam a dinâmica do poder e os interesses geopolíticos durante a Guerra Fria. Em 1951, Mohammad Mossadegh, um político nacionalista eleito Primeiro-Ministro, deu o passo ousado de nacionalizar a indústria petrolífera iraniana, que era então controlada pela British Anglo-Iranian Oil Company (AIOC, atualmente BP). Mossadegh considerava que o controlo dos recursos naturais do país, nomeadamente do petróleo, era essencial para a independência económica e política do Irão. A decisão de nacionalizar o petróleo foi extremamente popular no Irão, mas também provocou uma crise internacional. O Reino Unido, que perdeu o seu acesso privilegiado aos recursos petrolíferos do Irão, procurou impedir a medida por meios diplomáticos e económicos, incluindo a imposição de um embargo petrolífero. Confrontado com um impasse com o Irão e incapaz de resolver a situação por meios convencionais, o governo britânico pediu ajuda aos Estados Unidos. Inicialmente relutantes, os Estados Unidos acabaram por ser persuadidos, em parte devido ao aumento das tensões da Guerra Fria e ao receio da influência comunista no Irão.
Em 1953, a CIA, com o apoio do MI6 britânico, lançou a Operação Ajax, um golpe que levou à destituição de Mossadegh e ao reforço do poder do Xá, Mohammad Reza Pahlavi. Este golpe marcou um ponto de viragem decisivo na história do Irão, reforçando a monarquia e aumentando a influência ocidental, em especial a dos Estados Unidos, no Irão. No entanto, a intervenção estrangeira e a supressão das aspirações nacionalistas e democráticas criaram também um profundo ressentimento no Irão, que viria a contribuir para as tensões políticas internas e, em última análise, para a Revolução Iraniana de 1979. A Operação Ajax é frequentemente citada como um exemplo clássico do intervencionismo da Guerra Fria e das suas consequências a longo prazo, não só para o Irão, mas para toda a região do Médio Oriente.
O acontecimento de 1953 no Irão, marcado pela destituição do Primeiro-Ministro Mohammad Mossadegh, foi um período crucial que teve um impacto profundo no desenvolvimento político do país. Mossadegh, embora democraticamente eleito e extremamente popular pelas suas políticas nacionalistas, nomeadamente a nacionalização da indústria petrolífera iraniana, foi derrubado na sequência de um golpe de Estado orquestrado pela CIA americana e pelo MI6 britânico, conhecido como Operação Ajax.
A "Revolução Branca" do Xá Mohammad Reza Pahlavi[modifier | modifier le wikicode]
Após a partida de Mossadegh, o Xá Mohammad Reza Pahlavi consolidou o seu poder e tornou-se cada vez mais autoritário. O Xá, apoiado pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais, lançou um ambicioso programa de modernização e desenvolvimento do Irão. Este programa, conhecido como a "Revolução Branca", foi lançado em 1963 e tinha por objetivo transformar rapidamente o Irão numa nação moderna e industrializada. As reformas do Xá incluíam a redistribuição de terras, uma campanha maciça de alfabetização, a modernização económica, a industrialização e a concessão do direito de voto às mulheres. Estas reformas deveriam reforçar a economia iraniana, reduzir a dependência do petróleo e melhorar as condições de vida dos cidadãos iranianos. No entanto, o reinado do Xá também se caracterizou por um controlo político rigoroso e pela repressão da dissidência. A polícia secreta do Xá, a SAVAK, criada com a ajuda dos Estados Unidos e de Israel, era conhecida pela sua brutalidade e pelas suas tácticas repressivas. A falta de liberdades políticas, a corrupção e a crescente desigualdade social provocaram um descontentamento generalizado entre a população iraniana. Embora o Xá tenha conseguido realizar alguns progressos em termos de modernização e desenvolvimento, a ausência de reformas políticas democráticas e a repressão das vozes da oposição acabaram por contribuir para a alienação de grandes segmentos da sociedade iraniana. Esta situação abriu caminho à Revolução Iraniana de 1979, que derrubou a monarquia e instaurou a República Islâmica do Irão.
Reforço dos laços com o Ocidente e impacto social[modifier | modifier le wikicode]
Desde 1955, sob a liderança do Xá Mohammad Reza Pahlavi, o Irão tem procurado reforçar os seus laços com o Ocidente, em especial com os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. A adesão do Irão ao Pacto de Bagdade, em 1955, foi um elemento-chave desta orientação estratégica. Este pacto, que incluía igualmente o Iraque, a Turquia, o Paquistão e o Reino Unido, era uma aliança militar destinada a conter a expansão do comunismo soviético no Médio Oriente. No âmbito da sua aproximação ao Ocidente, o Xá lançou a "Revolução Branca", um conjunto de reformas destinadas a modernizar o Irão. Estas reformas, largamente influenciadas pelo modelo americano, incluíam alterações nos padrões de produção e consumo, reforma agrária, uma campanha de alfabetização e iniciativas para promover a industrialização e o desenvolvimento económico. O estreito envolvimento dos Estados Unidos no processo de modernização do Irão foi também simbolizado pela presença de peritos e conselheiros americanos em solo iraniano. Estes peritos gozavam frequentemente de privilégios e imunidades, o que deu origem a tensões em vários sectores da sociedade iraniana, nomeadamente nos círculos religiosos e nos nacionalistas.
As reformas do Xá, embora conduzissem à modernização económica e social, eram também vistas por muitos como uma forma de americanização e uma erosão dos valores e tradições iranianos. Esta perceção foi exacerbada pela natureza autoritária do regime do Xá e pela ausência de liberdades políticas e de participação popular. A presença e a influência americanas no Irão, bem como as reformas da "Revolução Branca", alimentaram um ressentimento crescente, sobretudo nos círculos religiosos. Os líderes religiosos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, começaram a manifestar uma oposição cada vez mais forte ao Xá, criticando-o pela sua dependência dos Estados Unidos e pelo seu afastamento dos valores islâmicos. Esta oposição acabou por desempenhar um papel fundamental na mobilização que conduziu à Revolução Iraniana de 1979.
As reformas da "Revolução Branca" no Irão, iniciadas pelo Xá Mohammad Reza Pahlavi na década de 1960, incluíram uma importante reforma agrária que teve um impacto profundo na estrutura social e económica do país. O objetivo desta reforma era modernizar a agricultura iraniana e reduzir a dependência do país das exportações de petróleo, melhorando simultaneamente as condições de vida dos camponeses. A reforma agrária rompeu com as práticas tradicionais, nomeadamente as ligadas ao Islão, como as ofertas dos imãs. Em vez disso, privilegiou uma abordagem de economia de mercado, com o objetivo de aumentar a produtividade e estimular o desenvolvimento económico. As terras foram redistribuídas, reduzindo o poder dos grandes proprietários e das elites religiosas que controlavam vastas extensões de terras agrícolas. No entanto, esta reforma, juntamente com outras iniciativas de modernização, foi efectuada de forma autoritária e de cima para baixo, sem qualquer consulta ou participação significativa da população. A repressão da oposição, incluindo os grupos de esquerda e comunistas, foi também uma caraterística do regime do Xá. A SAVAK, a polícia secreta do Xá, era famosa pelos seus métodos brutais e pela sua extensa vigilância.
A abordagem autoritária do Xá, combinada com o impacto económico e social das reformas, gerou um descontentamento crescente entre vários segmentos da sociedade iraniana. Os clérigos xiitas, os nacionalistas, os comunistas, os intelectuais e outros grupos encontraram pontos em comum na sua oposição ao regime. Com o tempo, esta oposição díspar consolidou-se num movimento cada vez mais coordenado. A Revolução Iraniana de 1979 pode ser vista como o resultado desta convergência de oposições. A repressão do Xá, a perceção da influência estrangeira, as reformas económicas perturbadoras e a marginalização dos valores tradicionais e religiosos criaram um terreno fértil para uma revolta popular. Esta revolução acabou por derrubar a monarquia e instaurar a República Islâmica do Irão, marcando um ponto de viragem radical na história do país.
A celebração do 2500º aniversário do Império Persa em 1971, organizada pelo Xá Mohammad Reza Pahlavi, foi um acontecimento monumental destinado a sublinhar a grandeza e a continuidade histórica do Irão. Esta celebração sumptuosa, que teve lugar em Persépolis, a antiga capital do Império Aqueménida, destinava-se a estabelecer uma ligação entre o regime do Xá e a gloriosa história imperial da Pérsia. No âmbito dos seus esforços para reforçar a identidade nacional do Irão e realçar as suas raízes históricas, o Xá Mohammad Reza introduziu uma alteração significativa no calendário iraniano. O calendário islâmico, que se baseava na Hégira (migração do profeta Maomé de Meca para Medina), foi substituído por um calendário imperial que começou com a fundação do Império Aqueménida por Ciro, o Grande, em 559 a.C.
No entanto, esta alteração do calendário foi controversa e vista por muitos como uma tentativa do Xá de minimizar a importância do Islão na história e na cultura iranianas, em favor da glorificação do passado imperial pré-islâmico. Esta medida fazia parte das políticas de modernização e secularização do Xá, mas também alimentou o descontentamento entre os grupos religiosos e as pessoas ligadas às tradições islâmicas. Alguns anos mais tarde, na sequência da Revolução Iraniana de 1979, o Irão voltou a utilizar o calendário islâmico. A revolução, liderada pelo Ayatollah Khomeini, derrubou a monarquia Pahlavi e estabeleceu a República Islâmica do Irão, marcando uma profunda rejeição das políticas e do estilo de governação do Xá, incluindo as suas tentativas de promover um nacionalismo baseado na história pré-islâmica do Irão. A questão do calendário e a celebração do 2500º aniversário do Império Persa são exemplos de como a história e a cultura podem ser mobilizadas na política e de como essas acções podem ter um impacto significativo na dinâmica social e política de um país.
A Revolução Iraniana de 1979 e o seu impacto[modifier | modifier le wikicode]
A Revolução Iraniana de 1979 é um acontecimento marcante na história contemporânea, não só para o Irão mas também para a geopolítica mundial. A revolução assistiu ao colapso da monarquia do Xá Mohammad Reza Pahlavi e à instauração de uma República Islâmica sob a direção do Ayatollah Rouhollah Khomeini. Nos anos que antecederam a revolução, o Irão foi abalado por manifestações maciças e agitação popular. Estes protestos foram motivados por uma série de queixas contra o Xá, nomeadamente as suas políticas autoritárias, a corrupção e a dependência em relação ao Ocidente, a repressão política e as desigualdades sociais e económicas agravadas pelas políticas de modernização rápida. Além disso, a doença do Xá e a sua incapacidade de responder eficazmente às crescentes exigências de reforma política e social contribuíram para um sentimento geral de descontentamento e desilusão.
Em janeiro de 1979, perante a intensificação da agitação, o Xá deixou o Irão e partiu para o exílio. Pouco tempo depois, o Ayatollah Khomeini, líder espiritual e político da revolução, regressou ao Irão após 15 anos de exílio. Khomeini era uma figura carismática e respeitada, cuja oposição à monarquia Pahlavi e o apelo a um Estado islâmico tinham conquistado um apoio generalizado entre vários segmentos da sociedade iraniana. Quando Khomeini chegou ao Irão, foi recebido por milhões de apoiantes. Pouco tempo depois, as forças armadas iranianas declararam a sua neutralidade, um sinal claro de que o regime do Xá estava irremediavelmente enfraquecido. Khomeini tomou rapidamente as rédeas do poder, declarando o fim da monarquia e estabelecendo um governo provisório.
A Revolução Iraniana levou à criação da República Islâmica do Irão, um Estado teocrático baseado nos princípios do Islão xiita e dirigido por clérigos religiosos. Khomeini tornou-se o líder supremo do Irão, uma posição que lhe conferiu um poder considerável sobre os aspectos políticos e religiosos do Estado. A revolução não só transformou o Irão, como também teve um impacto significativo na política regional e internacional, nomeadamente ao intensificar as tensões entre o Irão e os Estados Unidos e ao influenciar os movimentos islamistas noutras partes do mundo muçulmano.
A Revolução Iraniana de 1979 atraiu a atenção mundial e foi apoiada por vários grupos, incluindo alguns intelectuais ocidentais que a consideraram um movimento de libertação ou um renascimento espiritual e político. Entre eles, o filósofo francês Michel Foucault foi particularmente conhecido pelos seus escritos e comentários sobre a revolução. Foucault, conhecido pelas suas análises críticas das estruturas de poder e de governação, interessou-se pela Revolução Iraniana como um acontecimento significativo que desafiou as normas políticas e sociais contemporâneas. Fascinava-o o aspeto popular e espiritual da revolução, vendo-a como uma forma de resistência política que ultrapassava as tradicionais categorias ocidentais de esquerda e direita. No entanto, a sua posição foi fonte de controvérsia e debate, sobretudo devido à natureza da República Islâmica que emergiu após a revolução.
A Revolução Iraniana levou ao estabelecimento de uma teocracia xiita, em que os princípios da governação islâmica, baseados na lei xiita (Sharia), foram integrados nas estruturas políticas e jurídicas do Estado. Sob a liderança do Ayatollah Khomeini, o novo regime estabeleceu uma estrutura política única conhecida como "Velayat-e Faqih" (a tutela do jurista islâmico), na qual uma autoridade religiosa suprema, o Líder Supremo, detém um poder considerável. A transição do Irão para uma teocracia conduziu a mudanças profundas em todos os aspectos da sociedade iraniana. Embora a revolução tenha contado inicialmente com o apoio de vários grupos, incluindo nacionalistas, esquerdistas e liberais, bem como de clérigos, nos anos que se seguiram assistiu-se a uma consolidação do poder nas mãos dos clérigos xiitas e a uma repressão crescente de outros grupos políticos. A natureza da República Islâmica, com a sua mistura de teocracia e democracia, continuou a ser objeto de debate e análise, tanto no Irão como a nível internacional. A revolução transformou profundamente o Irão e teve um impacto duradouro na política regional e mundial, redefinindo a relação entre religião, política e poder.
A guerra Irão-Iraque e os seus efeitos na República Islâmica[modifier | modifier le wikicode]
A invasão do Irão pelo Iraque em 1980, sob o regime de Saddam Hussein, desempenhou um papel paradoxal na consolidação da República Islâmica do Irão. Este conflito, conhecido como a guerra Irão-Iraque, durou de setembro de 1980 a agosto de 1988 e foi um dos mais longos e sangrentos conflitos do século XX. Na altura do ataque ao Iraque, a República Islâmica do Irão estava ainda a dar os primeiros passos, após a revolução de 1979 que derrubou a monarquia Pahlavi. O regime iraniano, liderado pelo Ayatollah Khomeini, estava em vias de consolidar o seu poder, mas enfrentava tensões e desafios internos significativos. A invasão iraquiana teve um efeito unificador no Irão, reforçando o sentimento nacional e o apoio ao regime islâmico. Confrontado com uma ameaça externa, o povo iraniano, incluindo muitos grupos que anteriormente estavam em desacordo com o governo, uniu-se em torno da defesa nacional. A guerra também permitiu que o regime de Khomeini reforçasse o seu controlo sobre o país, mobilizando a população sob a bandeira da defesa da República Islâmica e do Islão xiita. A guerra Irão-Iraque também reforçou a importância do poder religioso no Irão. O regime utilizou a retórica religiosa para mobilizar a população e legitimar as suas acções, apoiando-se no conceito de "defesa do Islão" para unir iranianos de diferentes convicções políticas e sociais.
A República Islâmica do Irão não foi formalmente proclamada, mas surgiu com a revolução islâmica de 1979. A nova constituição do Irão, adoptada após a revolução, estabeleceu uma estrutura política teocrática única, com os princípios e valores islâmicos xiitas no centro do sistema de governo. O secularismo não é uma caraterística da Constituição iraniana, que, pelo contrário, funde a governação religiosa e política sob a doutrina do "Velayat-e Faqih" (a tutela do jurista islâmico).
Egipto[modifier | modifier le wikicode]
O Egipto antigo e as suas sucessões[modifier | modifier le wikicode]
O Egipto, com a sua história rica e complexa, é o berço de civilizações antigas e tem sido palco de uma sucessão de governantes ao longo dos séculos. A região que é hoje o Egipto foi o centro de uma das primeiras e maiores civilizações da história, com raízes que remontam ao antigo Egipto faraónico. Ao longo do tempo, o Egipto esteve sob a influência de vários impérios e potências. Após a era faraónica, esteve sucessivamente sob o domínio persa, grego (após a conquista de Alexandre, o Grande) e romano. Cada um destes períodos deixou uma marca duradoura na história e na cultura do Egipto. A conquista árabe do Egipto, iniciada em 639, marcou um ponto de viragem na história do país. A invasão árabe levou à islamização e à arabização do Egipto, transformando profundamente a sociedade e a cultura egípcias. O Egipto tornou-se parte integrante do mundo islâmico, estatuto que mantém até aos dias de hoje.
Em 1517, o Egipto ficou sob o controlo do Império Otomano após a tomada do Cairo. Sob o domínio otomano, o Egipto manteve um certo grau de autonomia local, mas também estava ligado às fortunas políticas e económicas do Império Otomano. Este período durou até ao início do século XIX, altura em que o Egipto começou a avançar para uma maior modernização e independência sob o comando de líderes como Muhammad Ali Pasha, frequentemente considerado o fundador do Egipto moderno. A história do Egipto é, portanto, a de uma encruzilhada de civilizações, culturas e influências, que transformou o país numa nação única com uma identidade rica e diversificada. Cada período da sua história contribuiu para a construção do Egipto contemporâneo, um Estado que desempenha um papel fundamental no mundo árabe e na política internacional.
No século XVIII, o Egipto tornou-se um território de interesse estratégico para as potências europeias, em particular para a Grã-Bretanha, devido à sua localização geográfica crucial e ao controlo da rota para a Índia. O interesse britânico no Egipto aumentou com a crescente importância do comércio marítimo e a necessidade de rotas comerciais seguras.
Mehmet Ali e as Reformas Modernizadoras[modifier | modifier le wikicode]
A Nahda, ou Renascença Árabe, foi um importante movimento cultural, intelectual e político que se enraizou no Egipto no século XIX, especialmente durante o reinado de Mehmet Ali, frequentemente considerado o fundador do Egipto moderno. Mehmet Ali, de origem albanesa, foi nomeado governador do Egipto pelos otomanos em 1805 e rapidamente começou a modernizar o país. As suas reformas incluíram a modernização do exército, a introdução de novos métodos agrícolas, a expansão da indústria e a criação de um sistema de ensino moderno. A Nahda no Egipto coincidiu com um movimento cultural e intelectual mais vasto no mundo árabe, caracterizado por um renascimento literário, científico e intelectual. No Egipto, este movimento foi estimulado pelas reformas de Mehmet Ali e pela abertura do país às influências europeias.
Ibrahim Paxá, filho de Mehmet Ali, também desempenhou um papel importante na história do Egipto. Sob o seu comando, as forças egípcias levaram a cabo várias campanhas militares bem sucedidas, alargando a influência do Egipto muito para além das suas fronteiras tradicionais. Na década de 1830, as tropas egípcias chegaram mesmo a desafiar o Império Otomano, o que levou a uma crise internacional que envolveu as grandes potências europeias. O expansionismo de Mehmet Ali e Ibrahim Pasha constituiu um desafio direto à autoridade otomana e marcou o Egipto como um importante ator político e militar na região. No entanto, a intervenção das potências europeias, em especial da Grã-Bretanha e da França, acabou por limitar as ambições egípcias, prefigurando o papel crescente que estas potências viriam a desempenhar na região no século XIX e no início do século XX.
A abertura do Canal do Suez, em 1869, marcou um momento decisivo na história do Egipto, aumentando significativamente a sua importância estratégica na cena internacional. Este canal, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, revolucionou o comércio marítimo, reduzindo consideravelmente a distância entre a Europa e a Ásia. O Egipto encontrava-se assim no centro das rotas comerciais mundiais, atraindo a atenção das grandes potências imperialistas, em especial da Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo, porém, o Egipto enfrentava desafios económicos consideráveis. O custo da construção do Canal do Suez e de outros projectos de modernização levou o governo egípcio a contrair pesadas dívidas aos países europeus, sobretudo à França e à Grã-Bretanha. A incapacidade do Egipto de pagar estes empréstimos teve consequências políticas e económicas importantes.
O Protetorado Britânico e a Luta pela Independência[modifier | modifier le wikicode]
O protetorado britânico e a luta pela independência Em 1876, na sequência da crise da dívida, foi criada uma comissão de controlo franco-britânica para supervisionar as finanças do Egipto. Esta comissão assumiu um papel importante na administração do país, reduzindo efetivamente a autonomia e a soberania do Egipto. Esta ingerência estrangeira provocou um descontentamento crescente entre a população egípcia, nomeadamente entre as classes trabalhadoras, que sofriam os efeitos económicos das reformas e do pagamento da dívida. A situação agravou-se ainda mais na década de 1880. Em 1882, após vários anos de tensão crescente e de desordem interna, incluindo a revolta nacionalista de Ahmed Urabi, a Grã-Bretanha interveio militarmente e estabeleceu um protetorado de facto sobre o Egipto. Embora o Egipto tenha permanecido oficialmente parte do Império Otomano até ao final da Primeira Guerra Mundial, na realidade estava sob controlo britânico. A presença britânica no Egipto era justificada pela necessidade de proteger os interesses britânicos, nomeadamente o Canal do Suez, crucial para a rota marítima para a Índia, a "joia da coroa" do Império Britânico. Este período de domínio britânico teve um profundo impacto no Egipto, moldando o seu desenvolvimento político, económico e social e lançando as sementes do nacionalismo egípcio que acabariam por conduzir à revolução de 1952 e à independência formal do país.
A Primeira Guerra Mundial acentuou a importância estratégica do Canal do Suez para as potências beligerantes, nomeadamente para a Grã-Bretanha. O Canal era vital para os interesses britânicos, uma vez que proporcionava a rota marítima mais rápida para as suas colónias na Ásia, nomeadamente a Índia, que era então uma parte crucial do Império Britânico. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a necessidade de proteger o Canal do Suez contra possíveis ataques ou interferências das Potências Centrais (nomeadamente do Império Otomano, aliado da Alemanha) tornou-se uma prioridade para a Grã-Bretanha. Em resposta a estas preocupações estratégicas, os britânicos decidiram reforçar o seu domínio sobre o Egipto. Em 1914, a Grã-Bretanha proclamou oficialmente um protetorado sobre o Egipto, substituindo nominalmente a suserania do Império Otomano pelo controlo direto britânico. A proclamação marcou o fim do domínio otomano nominal sobre o Egipto, que existia desde 1517, e estabeleceu uma administração colonial britânica no país.
O protetorado britânico implicou uma interferência direta nos assuntos internos do Egipto e reforçou o controlo militar e político britânico sobre o país. Embora os britânicos tenham justificado esta medida como sendo necessária para a defesa do Egipto e do Canal do Suez, os egípcios consideraram-na uma violação da sua soberania e alimentaram o sentimento nacionalista no Egipto. A Primeira Guerra Mundial foi um período de dificuldades económicas e sociais no Egipto, exacerbadas pelas exigências do esforço de guerra britânico e pelas restrições impostas pela administração colonial. Estas condições contribuíram para o aparecimento de um movimento nacionalista egípcio mais forte, que acabou por conduzir a revoltas e à luta pela independência nos anos que se seguiram à guerra.
O movimento nacionalista e a luta pela independência[modifier | modifier le wikicode]
O período pós-Primeira Guerra Mundial no Egipto foi um período de crescentes tensões e reivindicações nacionalistas. Os egípcios, que tinham sofrido os rigores da guerra, incluindo o trabalho árduo e a fome devido à requisição britânica de recursos, começaram a exigir a independência e o reconhecimento dos seus esforços de guerra.
O fim da Primeira Guerra Mundial tinha criado um clima global em que as ideias de autodeterminação e o fim dos impérios coloniais ganhavam terreno, graças, em parte, aos Catorze Pontos do Presidente norte-americano Woodrow Wilson, que apelava a novos princípios de governação internacional e ao direito dos povos à autodeterminação. No Egipto, este clima levou à formação de um movimento nacionalista, encarnado pelo Wafd (que significa "delegação" em árabe). O Wafd era liderado por Saad Zaghloul, que se tornou o porta-voz das aspirações nacionalistas egípcias. Em 1919, Zaghloul e outros membros do Wafd tentaram deslocar-se à Conferência de Paz de Paris para defender a independência do Egipto. No entanto, a tentativa da delegação egípcia de viajar para Paris foi obstruída pelas autoridades britânicas. Zaghloul e os seus companheiros foram presos e exilados em Malta pelos britânicos, o que desencadeou manifestações e motins em massa no Egipto, conhecidos como a Revolução de 1919. Esta revolução foi uma grande revolta popular, com a participação maciça de egípcios de todos os estratos sociais, e marcou um ponto de viragem decisivo na luta pela independência do Egipto.
O exílio forçado de Zaghloul e a reação repressiva britânica galvanizaram o movimento nacionalista no Egipto e aumentaram a pressão sobre a Grã-Bretanha para que reconhecesse a independência do Egipto. Em última análise, a crise levou ao reconhecimento parcial da independência do Egipto em 1922 e ao fim formal do protetorado britânico em 1936, embora a influência britânica no Egipto tenha permanecido significativa até à revolução de 1952. O Wafd tornou-se um importante ator político no Egipto, desempenhando um papel crucial na política egípcia nas décadas seguintes, e Saad Zaghloul continuou a ser uma figura emblemática do nacionalismo egípcio.
O movimento nacionalista revolucionário no Egipto, reforçado pela Revolução de 1919 e pela liderança do Wafd sob a direção de Saad Zaghloul, exerceu uma pressão crescente sobre a Grã-Bretanha para que reconsiderasse a sua posição no Egipto. Em resposta a esta pressão e à evolução das realidades políticas após a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha proclamou o fim do seu protetorado sobre o Egipto em 1922. No entanto, esta "independência" era altamente condicional e limitada. Na verdade, embora a declaração de independência marcasse um passo em direção à soberania egípcia, incluía várias reservas importantes que mantinham a influência britânica no Egipto. Estas incluíam a manutenção da presença militar britânica em torno do Canal do Suez, que era crucial para os interesses estratégicos e comerciais britânicos, e o controlo do Sudão, a fonte vital do Nilo e uma questão geopolítica importante.
Neste contexto, o Sultão Fouad, que era Sultão do Egipto desde 1917, aproveitou o fim do protetorado para se proclamar Rei Fouad I em 1922, estabelecendo assim uma monarquia egípcia independente. No entanto, o seu reinado caracterizou-se por laços estreitos com a Grã-Bretanha. Embora aceitando formalmente a independência, Fouad I actuou frequentemente em estreita colaboração com as autoridades britânicas, o que suscitou críticas dos nacionalistas egípcios, que o consideravam um monarca subserviente aos interesses britânicos. O período que se seguiu à declaração de independência em 1922 foi, portanto, um período de transição e de tensão no Egipto, com lutas políticas internas sobre o rumo do país e o verdadeiro grau de independência em relação à Grã-Bretanha. Esta situação lançou as bases para futuros conflitos políticos no Egipto, incluindo a revolução de 1952 que derrubou a monarquia e estabeleceu a República Árabe do Egipto.
A fundação da Irmandade Muçulmana no Egipto, em 1928, por Hassan al-Banna, é um acontecimento importante na história social e política do país. O movimento foi criado num contexto de crescente insatisfação com a rápida modernização e a influência ocidental no Egipto, bem como com a deterioração dos valores e tradições islâmicas. A Irmandade Muçulmana posicionou-se como um movimento islamista que procurava promover o regresso aos princípios islâmicos em todos os aspectos da vida. Defendiam uma sociedade regida por leis e princípios islâmicos, em oposição ao que consideravam ser uma ocidentalização excessiva e uma perda da identidade cultural islâmica. O movimento ganhou popularidade rapidamente, tornando-se uma força social e política influente no Egipto. Paralelamente ao aparecimento de movimentos como a Irmandade Muçulmana, o Egipto viveu um período de instabilidade política nas décadas de 1920 e 1930. Esta instabilidade, combinada com a ascensão das potências fascistas na Europa, criou um contexto internacional preocupante para a Grã-Bretanha.
Perante este cenário, a Grã-Bretanha procurou consolidar a sua influência no Egipto, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de fazer concessões em matéria de independência egípcia. Em 1936, a Grã-Bretanha e o Egipto assinaram o Tratado Anglo-Egípcio, que reforçava formalmente a independência do Egipto e permitia a presença militar britânica no país, em especial nas imediações do Canal do Suez. O tratado também reconhecia o papel do Egipto na defesa do Sudão, então sob o domínio anglo-egípcio. O Tratado de 1936 constituiu um passo no sentido de uma maior independência do Egipto, mas também manteve aspectos fundamentais da influência britânica. A assinatura do Tratado foi uma tentativa da Grã-Bretanha de estabilizar a situação no Egipto e de garantir que o país não caísse sob a influência das potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Reflecte igualmente o reconhecimento por parte da Grã-Bretanha da necessidade de se adaptar à evolução da realidade política no Egipto e na região.
A Era Nasser e a Revolução de 1952[modifier | modifier le wikicode]
Em 23 de julho de 1952, um golpe de Estado liderado por um grupo de oficiais militares egípcios, conhecidos como os Oficiais Livres, marcou um importante ponto de viragem na história do Egipto. Esta revolução derrubou a monarquia do rei Farouk e levou à instauração de uma república. Entre os líderes dos Oficiais Livres, Gamal Abdel Nasser tornou-se rapidamente a figura dominante e o rosto do novo regime. Nasser, que se tornou presidente em 1954, adoptou uma política fortemente nacionalista e terceiro-mundista, influenciada pelas ideias do pan-arabismo e do socialismo. O seu pan-arabismo visava unir os países árabes em torno de valores e interesses políticos, económicos e culturais comuns. Esta ideologia foi, em parte, uma resposta à influência e intervenção ocidentais na região. A nacionalização do Canal do Suez, em 1956, foi uma das decisões mais ousadas e emblemáticas de Nasser. Esta ação foi motivada pelo desejo de controlar um recurso vital para a economia egípcia e de se libertar da influência ocidental, mas também desencadeou a crise do Canal do Suez, um importante confronto militar com a França, o Reino Unido e Israel.
O socialismo de Nasser era desenvolvimentista, com o objetivo de modernizar e industrializar a economia egípcia, promovendo simultaneamente a justiça social. Sob a sua liderança, o Egipto lançou grandes projectos de infra-estruturas, o mais notável dos quais foi a barragem de Assuão. Para realizar este grande projeto, Nasser recorreu à União Soviética para obter apoio financeiro e técnico, marcando uma aproximação entre o Egipto e os soviéticos durante a Guerra Fria. Nasser procurou também desenvolver uma burguesia egípcia, ao mesmo tempo que implementava políticas socialistas, como a reforma agrária e a nacionalização de certas indústrias. Estas políticas tinham como objetivo reduzir as desigualdades e criar uma economia mais justa e independente. A liderança de Nasser teve um impacto significativo não só no Egipto, mas também em todo o mundo árabe e no Terceiro Mundo. Tornou-se uma figura emblemática do nacionalismo árabe e do movimento dos não-alinhados, procurando estabelecer uma via independente para o Egipto fora dos blocos de poder da Guerra Fria.
De Sadat ao Egipto Contemporâneo[modifier | modifier le wikicode]
A Guerra dos Seis Dias, em 1967, perdida pelo Egipto, pela Jordânia e pela Síria para Israel, foi um momento devastador para o pan-arabismo de Nasser. Esta derrota não só resultou numa perda territorial significativa para estes países árabes, como também foi um rude golpe para a ideia de unidade e poder árabes. Nasser, profundamente afetado por este fracasso, manteve-se no poder até à sua morte, em 1970. Anwar Sadat, que sucedeu a Nasser, tomou uma direção diferente. Lançou reformas económicas, conhecidas como Infitah, destinadas a abrir a economia egípcia ao investimento estrangeiro e a estimular o crescimento económico. Sadat também questionou o empenhamento do Egipto no pan-arabismo e procurou estabelecer relações com Israel. Os Acordos de Camp David de 1978, negociados com a ajuda dos Estados Unidos, conduziram a um tratado de paz entre o Egipto e Israel, o que constituiu um importante ponto de viragem na história do Médio Oriente.
No entanto, a aproximação de Sadat a Israel foi extremamente controversa no mundo árabe e levou à expulsão do Egipto da Liga Árabe. Esta decisão foi vista por muitos como uma traição aos princípios pan-árabes e contribuiu para uma reavaliação da ideologia pan-árabe na região. Sadat foi assassinado em 1981 por membros da Irmandade Muçulmana, um grupo islamista que se tinha oposto às suas políticas, nomeadamente à sua política externa. Sucedeu-lhe o seu vice-presidente, Hosni Mubarak, que estabeleceu um regime que duraria quase três décadas.
Durante o regime de Mubarak, o Egipto gozou de uma relativa estabilidade, mas também de uma crescente repressão política, nomeadamente contra a Irmandade Muçulmana e outros grupos da oposição. No entanto, em 2011, durante a primavera Árabe, Mubarak foi derrubado por uma revolta popular, ilustrando o descontentamento generalizado com a corrupção, o desemprego e a repressão política. Mohamed Morsi, membro da Irmandade Muçulmana, foi eleito presidente em 2012, mas o seu mandato foi de curta duração. Em 2013, foi derrubado por um golpe militar liderado pelo general Abdel Fattah al-Sissi, que foi posteriormente eleito presidente em 2014. O regime de Sissi tem sido marcado por uma maior repressão dos dissidentes políticos, incluindo os membros da Irmandade Muçulmana, e por esforços para estabilizar a economia e reforçar a segurança do país. O período recente da história do Egipto é, portanto, caracterizado por grandes mudanças políticas, que reflectem a dinâmica complexa e frequentemente turbulenta da política egípcia e árabe.
Arábia Saudita[modifier | modifier le wikicode]
A aliança fundadora: Ibn Saud e Ibn Abd al-Wahhab[modifier | modifier le wikicode]
A Arábia Saudita distingue-se pela sua relativa juventude como Estado-nação moderno e pelos fundamentos ideológicos únicos que moldaram a sua formação e evolução. Um elemento fundamental para compreender a história e a sociedade sauditas é a ideologia do wahhabismo.
O wahhabismo é uma forma de Islão sunita, caracterizada por uma interpretação rigorosa e puritana do Islão. O seu nome deriva de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, um teólogo e reformador religioso do século XVIII, oriundo da região de Najd, na atual Arábia Saudita. Ibn Abd al-Wahhab defendia um regresso ao que considerava serem os princípios originais do Islão, rejeitando muitas práticas que considerava serem inovações (bid'ah) ou idolatrias. A influência do wahhabismo na formação da Arábia Saudita está indissociavelmente ligada à aliança entre Muhammad ibn Abd al-Wahhab e Muhammad ibn Saud, o fundador da primeira dinastia saudita, no século XVIII. Esta aliança uniu os objectivos religiosos de Ibn Abd al-Wahhab com as ambições políticas e territoriais de Ibn Saud, criando uma base ideológica e política para o primeiro Estado saudita.
Estabelecimento do Estado saudita moderno[modifier | modifier le wikicode]
Durante o século XX, sob o reinado de Abdelaziz ibn Saud, o fundador do moderno Reino da Arábia Saudita, esta aliança foi reforçada. A Arábia Saudita foi oficialmente fundada em 1932, unindo várias tribos e regiões sob uma única autoridade nacional. O wahhabismo tornou-se a doutrina religiosa oficial do Estado, permeando a governação, a educação, a legislação e a vida social na Arábia Saudita. O wahhabismo não só influenciou a estrutura social e política interna da Arábia Saudita, como também teve um impacto nas suas relações externas, nomeadamente em termos de política externa e de apoio a vários movimentos islâmicos em todo o mundo. A riqueza petrolífera da Arábia Saudita permitiu-lhe promover a sua versão do Islão a nível internacional, contribuindo para a difusão do wahhabismo para além das suas fronteiras.
O pacto de 1744 entre Muhammad ibn Saud, o chefe da tribo Al Saud, e Muhammad ibn Abd al-Wahhab, um reformador religioso, é um acontecimento fundador na história da Arábia Saudita. Este pacto uniu os objectivos políticos de Ibn Saud com os ideais religiosos de Ibn Abd al-Wahhab, lançando as bases do que viria a ser o Estado saudita. Ibn Abd al-Wahhab defendia uma interpretação puritana do Islão, procurando eliminar da prática religiosa aquilo que considerava serem inovações, superstições e desvios aos ensinamentos do Profeta Maomé e do Corão. O seu movimento, que veio a ser conhecido como wahhabismo, apelava a um regresso a uma forma "mais pura" do Islão. Por outro lado, Ibn Saud viu no movimento de Ibn Abd al-Wahhab uma oportunidade para legitimar e alargar o seu poder político. O pacto entre ambos era, portanto, uma aliança religiosa e política, com Ibn Saud a comprometer-se a defender e a promover os ensinamentos de Ibn Abd al-Wahhab, enquanto Ibn Abd al-Wahhab apoiava a autoridade política de Ibn Saud. Nos anos que se seguiram, os Al Saud, com o apoio dos seguidores wahhabitas, empreenderam campanhas militares para alargar a sua influência e impor a sua interpretação do Islão. Estas campanhas conduziram à criação do primeiro Estado saudita no século XVIII, abrangendo uma grande parte da Península Arábica.
No entanto, a formação do Estado saudita não foi um processo linear. Durante o século XIX e início do século XX, a entidade política Al Saud sofreu vários reveses, incluindo a destruição do primeiro Estado saudita pelos otomanos e os seus aliados egípcios. Foi só com Abdelaziz ibn Saud, no início do século XX, que os Al Saud conseguiram finalmente estabelecer um reino estável e duradouro, a Arábia Saudita moderna, proclamada em 1932. A história da Arábia Saudita está, portanto, intimamente ligada à aliança entre os Al Saud e o movimento wahhabita, uma aliança que moldou não só a estrutura política e social do reino, mas também a sua identidade religiosa e cultural.
A reconquista de Ibn Saud e a fundação do Reino[modifier | modifier le wikicode]
O ataque a Meca pelas forças sauditas em 1803 é um acontecimento significativo na história da Península Arábica e reflecte as tensões religiosas e políticas da época. O wahhabismo, a interpretação rigorosa do islão sunita promovida por Muhammad ibn Abd al-Wahhab e adoptada pela Casa de Saud, considerava certas práticas, nomeadamente as do xiismo, estranhas ou mesmo heréticas ao islão. Em 1803, as forças wahhabitas sauditas tomaram o controlo de Meca, um dos locais mais sagrados do Islão, o que foi visto como um ato provocatório por outros muçulmanos, em especial os otomanos, que eram os guardiões tradicionais dos locais sagrados islâmicos. Esta tomada de posse foi vista não só como uma expansão territorial por parte dos Saud, mas também como uma tentativa de impor a sua interpretação particular do Islão.
Em resposta a este avanço saudita, o Império Otomano, procurando manter a sua influência na região, enviou forças sob o comando de Mehmet Ali Pasha, o governador otomano do Egipto. Mehmet Ali Pasha, conhecido pelas suas capacidades militares e pelos seus esforços para modernizar o Egipto, conduziu uma campanha eficaz contra as forças sauditas. Em 1818, após uma série de confrontos militares, as tropas de Mehmet Ali Pasha conseguiram derrotar as forças sauditas e capturar o seu líder, Abdullah bin Saud, que foi enviado para Constantinopla (atual Istambul), onde foi executado. Esta derrota marcou o fim do primeiro Estado saudita. Este episódio ilustra a complexidade da dinâmica política e religiosa da região na altura. Destaca não só os conflitos entre diferentes interpretações do Islão, mas também a luta pelo poder e influência entre as potências regionais da época, nomeadamente o Império Otomano e os sauditas emergentes.
A segunda tentativa de criação de um Estado saudita, que teve lugar entre 1820 e 1840, também encontrou dificuldades e acabou por fracassar. Este período foi marcado por uma série de conflitos e confrontos entre os Saud e vários adversários, incluindo o Império Otomano e os seus aliados locais. Estas lutas resultaram na perda de território e de influência da Casa de Saud. No entanto, a aspiração de criar um Estado saudita não desapareceu. Na viragem do século XX, nomeadamente por volta de 1900-1901, iniciou-se uma nova fase da história saudita com o regresso ao exílio dos membros da família Al Saud. Entre eles, Abdelaziz ibn Saud, frequentemente designado por Ibn Saud, desempenhou um papel crucial no renascimento e na expansão da influência saudita. Ibn Saud, um líder carismático e estratégico, decidiu reconquistar e unificar os territórios da Península Arábica sob a bandeira da Casa de Saud. A sua campanha começou com a tomada de Riade em 1902, que se tornou o ponto de partida para outras conquistas e para a expansão do seu reino.
Nas décadas seguintes, Ibn Saud conduziu uma série de campanhas militares e manobras políticas, alargando gradualmente o seu controlo sobre grande parte da Península Arábica. Estes esforços foram facilitados pela sua capacidade de negociar alianças, gerir rivalidades tribais e integrar os ensinamentos wahhabitas como base ideológica do seu Estado. O sucesso de Ibn Saud culminou com a fundação do Reino da Arábia Saudita em 1932, unindo as várias regiões e tribos sob uma única autoridade nacional. O novo reino consolidou os vários territórios conquistados por Ibn Saud, estabelecendo um Estado saudita duradouro, tendo o wahhabismo como base religiosa e ideológica. A criação da Arábia Saudita constituiu um marco significativo na história moderna do Médio Oriente, com implicações de grande alcance tanto para a região como para a política internacional, especialmente após a descoberta e exploração de petróleo no reino.
Relações com o Império Britânico e a Revolta Árabe[modifier | modifier le wikicode]
Em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos, procurando enfraquecer o Império Otomano, estabeleceram contactos com vários líderes árabes, incluindo o Xerife Hussein de Meca, que era um membro proeminente da família Hachemita. Simultaneamente, os britânicos mantiveram relações com os sauditas, liderados por Abdelaziz ibn Saud, embora estas fossem menos directas e envolventes do que as mantidas com os hachemitas. Sherif Hussein, encorajado pelas promessas britânicas de apoio à independência árabe, lançou a Revolta Árabe em 1916 contra o Império Otomano. Esta revolta foi motivada pelo desejo de independência árabe e pela oposição ao domínio otomano. No entanto, os sauditas, sob a liderança de Ibn Saud, não tomaram parte ativa nesta revolta. Estavam empenhados na sua própria campanha para consolidar e alargar o seu controlo sobre a Península Arábica. Embora os sauditas e os hachemitas tivessem interesses comuns contra os otomanos, eram também rivais pelo controlo da região.
Após a guerra, com o fracasso das promessas britânicas e francesas de criação de um reino árabe independente (tal como previsto nos acordos secretos Sykes-Picot), o Xerife Hussein viu-se isolado. Em 1924, proclamou-se califa, um ato que foi visto como provocatório por muitos muçulmanos, incluindo os sauditas. A proclamação de Hussein como califa constituiu um pretexto para os sauditas o atacarem, na tentativa de alargarem a sua influência. As forças sauditas tomaram finalmente o controlo de Meca em 1924, pondo fim ao domínio hachemita na região e consolidando o poder de Ibn Saud. Esta conquista foi uma etapa fundamental na formação do Reino da Arábia Saudita e marcou o fim das ambições de Sherif Hussein de criar um reino árabe unificado sob a dinastia hachemita.
A ascensão da Arábia Saudita e a descoberta do petróleo[modifier | modifier le wikicode]
Em 1926, Abdelaziz ibn Saud, tendo consolidado o seu controlo sobre uma grande parte da Península Arábica, proclamou-se rei do Hedjaz. O Hijaz, uma região de grande importância religiosa devido à presença das cidades santas de Meca e Medina, estava anteriormente sob o controlo da dinastia hachemita. A tomada do Hijaz por Ibn Saud marcou um passo significativo no estabelecimento da Arábia Saudita como uma entidade política poderosa na região. O reconhecimento de Ibn Saud como rei do Hijaz por potências como a Rússia, a França e a Grã-Bretanha constituiu um momento fundamental na legitimação internacional do seu governo. Estes reconhecimentos assinalaram uma mudança significativa nas relações internacionais e uma aceitação do novo equilíbrio de poder na região. A tomada de Hijaz por Ibn Saud não só reforçou a sua posição de líder político na Península Arábica, como também aumentou o seu prestígio no mundo muçulmano, colocando-o como guardião dos locais sagrados do Islão. Significou também o fim da presença hachemita no Hijaz, com os restantes membros da dinastia hachemita a fugirem para outras partes do Médio Oriente, onde viriam a fundar novos reinos, nomeadamente na Jordânia e no Iraque. A proclamação de Ibn Saud como rei do Hijaz foi, portanto, um marco importante na formação da Arábia Saudita moderna e ajudou a moldar a arquitetura política do Médio Oriente no período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial.
Em 1932, Abdelaziz ibn Saud concluiu um processo de consolidação territorial e política que conduziu à criação do Reino da Arábia Saudita. O reino uniu as regiões de Nedj (ou Nejd) e Hedjaz sob uma única autoridade nacional, marcando o nascimento do moderno Estado saudita. Esta unificação representou o culminar dos esforços de Ibn Saud para estabelecer um reino estável e unificado na Península Arábica, consolidando as várias conquistas e alianças que tinha conseguido ao longo dos anos. A descoberta de petróleo na Arábia Saudita, em 1938, foi um importante ponto de viragem não só para o reino, mas também para a economia mundial. A empresa americana California Arabian Standard Oil Company (mais tarde ARAMCO) foi a primeira a descobrir petróleo em quantidades comerciais. Esta descoberta transformou a Arábia Saudita de um Estado predominantemente desértico e agrário num dos maiores produtores de petróleo do mundo.
A Segunda Guerra Mundial acentuou a importância estratégica do petróleo saudita. Embora a Arábia Saudita tenha permanecido oficialmente neutra durante a guerra, a crescente procura de petróleo para alimentar o esforço de guerra tornou o reino um importante parceiro económico dos Aliados, nomeadamente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. A relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, em particular, fortaleceu-se durante e após a guerra, lançando as bases para uma aliança duradoura centrada na segurança e no petróleo. Este período assistiu também ao início da influência significativa da Arábia Saudita nos assuntos mundiais, graças, em grande parte, às suas vastas reservas de petróleo. O reino tornou-se um ator fundamental na economia global e na política do Médio Oriente, posição que continua a ocupar atualmente. A riqueza do petróleo permitiu à Arábia Saudita investir fortemente no desenvolvimento nacional e desempenhar um papel influente na política regional e internacional.
Desafios modernos: islamismo, petróleo e política internacional[modifier | modifier le wikicode]
A Revolução Islâmica no Irão em 1979 teve um impacto profundo no equilíbrio geopolítico do Médio Oriente, incluindo a Arábia Saudita. A subida ao poder do Ayatollah Khomeini e a instauração de uma República Islâmica no Irão suscitaram preocupações em muitos países da região, em especial na Arábia Saudita, onde se temia que a ideologia revolucionária xiita pudesse ser exportada e desestabilizar as monarquias do Golfo, predominantemente sunitas. Na Arábia Saudita, estes receios reforçaram a posição do reino como aliado dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais. No contexto da Guerra Fria e da crescente hostilidade entre os Estados Unidos e o Irão após a revolução, a Arábia Saudita era vista como um contrapeso vital à influência iraniana na região. O wahhabismo, a interpretação rigorosa e conservadora do Islão sunita praticada na Arábia Saudita, tornou-se um elemento central da identidade do reino e foi utilizado para contrariar a influência xiita iraniana.
A Arábia Saudita também desempenhou um papel fundamental nos esforços anti-soviéticos, nomeadamente durante a Guerra do Afeganistão (1979-1989). O reino apoiou os mujahideen afegãos que lutavam contra a invasão soviética, tanto financeira como ideologicamente, promovendo o wahhabismo como parte da resistência islâmica contra o ateísmo soviético. Em 1981, no âmbito da sua estratégia para reforçar a cooperação regional e contrariar a influência iraniana, a Arábia Saudita foi um ator fundamental na criação do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). O CCG, uma aliança política e económica, inclui a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Barém e Omã. A organização foi concebida para promover a colaboração entre as monarquias do Golfo em vários domínios, incluindo a defesa, a economia e a política externa. A posição da Arábia Saudita no CCG tem refletido e reforçado o seu papel de líder regional. O reino utilizou o CCG como plataforma para promover os seus interesses estratégicos e para estabilizar a região face aos desafios políticos e de segurança, nomeadamente as tensões com o Irão e a turbulência ligada aos movimentos islamistas e aos conflitos regionais.
A invasão do Kuwait pelo Iraque de Saddam Hussein, em agosto de 1990, desencadeou uma série de acontecimentos cruciais na região do Golfo, com repercussões importantes para a Arábia Saudita e para a política mundial. A invasão conduziu à Guerra do Golfo de 1991, na qual se formou uma coligação internacional liderada pelos EUA para libertar o Kuwait. Perante a ameaça iraquiana, a Arábia Saudita, receando uma possível invasão do seu próprio território, aceitou a presença de forças militares norte-americanas e de outras tropas da coligação no seu território. Foram estabelecidas bases militares temporárias na Arábia Saudita para lançar operações contra o Iraque. Esta decisão foi histórica e controversa, uma vez que implicou o estacionamento de tropas não muçulmanas no país que alberga as duas cidades mais sagradas do Islão, Meca e Medina.
A presença militar dos EUA na Arábia Saudita foi fortemente criticada por vários grupos islâmicos, incluindo a Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden. Bin Laden, ele próprio de origem saudita, interpretou a presença militar dos EUA na Arábia Saudita como uma profanação das terras sagradas do Islão. Esta era uma das principais queixas da Al Qaeda contra os Estados Unidos e foi utilizada como justificação para os seus ataques terroristas, incluindo os ataques de 11 de setembro de 2001. A reação da Al Qaeda à Guerra do Golfo e à presença militar dos EUA na Arábia Saudita pôs em evidência as tensões crescentes entre os valores ocidentais e certos grupos islamistas radicais. Também pôs em evidência os desafios que a Arábia Saudita enfrentava para equilibrar a sua relação estratégica com os EUA e gerir os sentimentos islâmicos conservadores da sua própria população. O período pós-Guerra do Golfo foi um período de mudança e instabilidade na região, marcado por conflitos políticos e ideológicos que continuam a influenciar a dinâmica regional e internacional.
O incidente na Grande Mesquita de Meca, em 1979, é um acontecimento marcante na história contemporânea da Arábia Saudita e ilustra as tensões internas ligadas a questões de identidade religiosa e política. Em 20 de novembro de 1979, um grupo de fundamentalistas islâmicos liderado por Juhayman al-Otaybi invadiu a Grande Mesquita de Meca, um dos locais mais sagrados do Islão. Juhayman al-Otaybi e os seus apoiantes, principalmente de origem conservadora e religiosa, criticavam a família real saudita pela sua corrupção, luxo e abertura à influência ocidental. Consideravam que estes factores estavam em contradição com os princípios wahhabitas em que o reino foi fundado. Al-Otaybi proclamou o seu cunhado, Mohammed Abdullah al-Qahtani, como o Mahdi, uma figura messiânica do Islão.
O cerco à Grande Mesquita durou duas semanas, durante as quais os insurrectos mantiveram milhares de peregrinos como reféns. A situação constituiu um desafio considerável para o governo saudita, não só em termos de segurança, mas também em termos de legitimidade religiosa e política. A Arábia Saudita teve de pedir uma fatwa (decreto religioso) para permitir a intervenção militar na mesquita, normalmente um santuário de paz onde a violência é proibida. O assalto final para retomar a mesquita começou em 4 de dezembro de 1979 e foi conduzido pelas forças de segurança sauditas com a ajuda de conselheiros franceses. A batalha foi intensa e mortífera, deixando centenas de insurrectos, forças de segurança e reféns mortos.
O incidente teve repercussões de grande alcance na Arábia Saudita e no mundo muçulmano. Revelou fissuras na sociedade saudita e pôs em evidência os desafios que o reino enfrenta em termos de gestão do extremismo religioso. Em resposta à crise, o Governo saudita reforçou as suas políticas religiosas conservadoras e aumentou o seu controlo sobre as instituições religiosas, continuando a reprimir a oposição islamista. O incidente também pôs em evidência a complexidade da relação entre religião, política e poder na Arábia Saudita.
Países criados por decreto[modifier | modifier le wikicode]
No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, sob a presidência de Woodrow Wilson, tinham uma visão diferente da das potências europeias relativamente ao futuro dos territórios conquistados durante a guerra. Wilson, com os seus Catorze Pontos, defendia o direito dos povos à autodeterminação e opunha-se à aquisição de territórios por conquista, uma posição que contrastava com os objectivos coloniais tradicionais das potências europeias, nomeadamente da Grã-Bretanha e da França. Os Estados Unidos eram também favoráveis a um sistema de comércio aberto e equitativo, o que significava que os territórios não deviam estar exclusivamente sob o controlo de uma única potência, a fim de permitir um acesso comercial mais amplo, beneficiando assim os interesses americanos. Na prática, porém, prevaleceram os interesses britânicos e franceses, tendo estes últimos obtido ganhos territoriais significativos na sequência do colapso do Império Otomano e da derrota da Alemanha.
Para conciliar estas diferentes perspectivas, foi encontrado um compromisso através do sistema de mandatos da Liga das Nações. Este sistema deveria ser uma forma de governação internacional para os territórios conquistados, em preparação para a sua eventual independência. A criação deste sistema exigiu um processo complexo de negociações e tratados. A Conferência de San Remo, em 1920, foi um momento-chave neste processo, durante o qual foram atribuídos os mandatos para os territórios do antigo Império Otomano, principalmente à Grã-Bretanha e à França. Posteriormente, a Conferência do Cairo, em 1921, definiu melhor os termos e os limites desses mandatos. Os Tratados de Sèvres, em 1920, e de Lausana, em 1923, redesenharam o mapa do Médio Oriente e formalizaram o fim do Império Otomano. O Tratado de Sèvres, em particular, desmantelou o Império Otomano e previu a criação de uma série de Estados-nação independentes. No entanto, devido à oposição turca e às alterações subsequentes da situação geopolítica, o Tratado de Sèvres foi substituído pelo Tratado de Lausana, que redefiniu as fronteiras da Turquia moderna e anulou algumas das disposições do Tratado de Sèvres. Este longo processo de negociação reflectiu as complexidades e as tensões da ordem mundial do pós-guerra, com as potências estabelecidas a procurarem manter a sua influência, ao mesmo tempo que se confrontavam com novos ideais internacionais e com a emergência dos Estados Unidos como potência mundial.
Após a Primeira Guerra Mundial, o desmantelamento dos impérios otomano e alemão levou à criação do sistema de mandatos da Sociedade das Nações, uma tentativa de gerir os territórios destes antigos impérios num contexto pós-colonial. Este sistema, estabelecido pelos tratados de paz do pós-guerra, nomeadamente o Tratado de Versalhes de 1919, estava dividido em três categorias - A, B e C - que reflectiam o grau de desenvolvimento e de preparação para a autonomia dos territórios em causa.
Os mandatos de tipo A, atribuídos aos territórios do antigo Império Otomano no Médio Oriente, eram considerados os mais avançados em termos de autodeterminação. Estes territórios, considerados relativamente "civilizados" segundo os padrões da época, incluíam a Síria e o Líbano, sob mandato francês, bem como a Palestina (incluindo a atual Jordânia) e o Iraque, sob mandato britânico. A noção de "civilização" utilizada na altura reflectia os preconceitos e as atitudes paternalistas das potências coloniais, partindo do princípio de que estas regiões estavam mais próximas da autonomia do que outras. O tratamento dos mandatos de tipo A reflectia os interesses geopolíticos das potências mandatárias, nomeadamente a Grã-Bretanha e a França, que procuravam alargar a sua influência na região. As suas acções eram frequentemente motivadas por considerações estratégicas e económicas, como o controlo das rotas comerciais e o acesso aos recursos petrolíferos, e não por um compromisso com a autonomia das populações locais. Este facto foi ilustrado pela Declaração de Balfour de 1917, na qual a Grã-Bretanha manifestou o seu apoio à criação de um "lar nacional judeu" na Palestina, uma decisão que teve consequências duradouras e fracturantes para a região. Considerou-se que os mandatos de tipo B e C, principalmente em África e em certas ilhas do Pacífico, exigiam um nível de supervisão mais elevado. Estes territórios, muitas vezes subdesenvolvidos e com poucas infra-estruturas, eram geridos mais diretamente pelas potências mandatárias. O sistema de mandatos, embora apresentado como uma forma de tutela benevolente, estava, na realidade, muito próximo do colonialismo e era amplamente percepcionado como tal pelas populações autóctones.
Em suma, o sistema de mandatos da Sociedade das Nações, apesar da sua intenção declarada de preparar os territórios para a independência, serviu muitas vezes para perpetuar a influência e o controlo das potências europeias nas regiões em causa. Lançou também as bases de muitos conflitos políticos e territoriais futuros, nomeadamente no Médio Oriente, onde as fronteiras e as políticas estabelecidas durante este período continuam a ter um impacto significativo na dinâmica regional e internacional.
Este mapa mostra a distribuição dos territórios anteriormente controlados pelo Império Otomano no Médio Oriente e no Norte de África depois de terem sido perdidos pelo Império, principalmente em resultado da Primeira Guerra Mundial. As diferentes zonas de influência e os territórios controlados pelas potências europeias estão codificados por cores. Os territórios estão divididos de acordo com a potência que os controlava ou exercia influência sobre eles. Os territórios controlados pelos britânicos estão assinalados a roxo, os franceses a amarelo, os italianos a rosa e os espanhóis a azul. Os territórios independentes estão assinalados a amarelo pálido, o Império Otomano a vidro, com as suas fronteiras no auge destacadas, e as áreas de influência russa e britânica também são mostradas.
O mapa mostra também as datas de início da ocupação ou controlo de certos territórios pelas potências coloniais, indicando o período de expansão imperialista no Norte de África e no Médio Oriente. Por exemplo, a Argélia está assinalada como território francês desde 1830, a Tunísia desde 1881 e Marrocos está dividido entre o controlo francês (desde 1912) e espanhol (desde 1912). A Líbia, por sua vez, esteve sob controlo italiano de 1911 a 1932. O Egipto está assinalado como controlado pelos britânicos desde 1882, embora fosse tecnicamente um protetorado britânico. O Sudão anglo-egípcio é também assinalado, reflectindo o controlo conjunto egípcio e britânico desde 1899. No que diz respeito ao Médio Oriente, o mapa mostra claramente os mandatos da Liga das Nações, com a Síria e o Líbano sob mandato francês e o Iraque e a Palestina (incluindo a atual Transjordânia) sob mandato britânico. O Hijaz, a região em torno de Meca e Medina, também é representado, reflectindo o controlo da família Saud, enquanto o Iémen e Omã são assinalados como protectorados britânicos. Este mapa é uma ferramenta útil para compreender as mudanças geopolíticas que ocorreram após o declínio do Império Otomano e a forma como o Médio Oriente e o Norte de África foram remodelados pelos interesses coloniais europeus. Mostra também a complexidade das relações de poder na região, que continuam a afetar a política regional e internacional nos dias de hoje.
Em 1919, na sequência da Primeira Guerra Mundial, a divisão dos territórios do antigo Império Otomano entre as potências europeias foi um processo controverso e divisivo. As populações locais destas regiões, que tinham alimentado aspirações de autodeterminação e independência, receberam muitas vezes com hostilidade o estabelecimento de mandatos controlados pelos europeus. Esta hostilidade inseria-se num contexto mais vasto de insatisfação com a influência e a intervenção ocidentais na região. O movimento nacionalista árabe, que ganhou força durante a guerra, aspirava à criação de um Estado árabe unificado ou de vários Estados árabes independentes. Estas aspirações tinham sido encorajadas pelas promessas britânicas de apoio à independência árabe em troca de apoio contra os otomanos, nomeadamente através da correspondência Hussein-McMahon e da Revolta Árabe liderada pelo Xerife Hussein de Meca. No entanto, o Acordo Sykes-Picot de 1916, um acordo secreto entre a Grã-Bretanha e a França, dividiu a região em zonas de influência, traindo as promessas feitas aos árabes.
Os sentimentos anti-ocidentais eram particularmente fortes devido à perceção de que as potências europeias não honravam os seus compromissos para com as populações árabes e manipulavam a região em função dos seus próprios interesses imperialistas. Em contrapartida, os Estados Unidos eram frequentemente encarados de forma menos crítica pelas populações locais. A política americana do Presidente Woodrow Wilson era vista como mais favorável à autodeterminação e menos inclinada para o imperialismo tradicional. Além disso, os Estados Unidos não tinham a mesma história colonial que as potências europeias na região, o que os tornava menos susceptíveis de suscitar a hostilidade das populações locais. O imediato pós-guerra foi, portanto, um período de profunda incerteza e tensão no Médio Oriente, com as populações locais a lutarem pela independência e autonomia face a potências estrangeiras que procuravam moldar a região de acordo com os seus próprios interesses estratégicos e económicos. As repercussões destes acontecimentos moldaram a história política e social do Médio Oriente ao longo do século XX e continuam a influenciar as relações internacionais na região.
=Síria
O alvorecer do nacionalismo árabe: o papel de Faisal[modifier | modifier le wikicode]
Faisal, filho do xerife Hussein bin Ali de Meca, desempenhou um papel de liderança na revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial e nas tentativas subsequentes de formar um reino árabe independente. Após a guerra, participou na Conferência de Paz de Paris, em 1919, munido de promessas britânicas de independência para os árabes em troca do seu apoio durante o conflito. No entanto, uma vez em Paris, Faisal depressa descobriu as complexas realidades políticas e as intrigas da diplomacia do pós-guerra. Os interesses franceses no Médio Oriente, nomeadamente na Síria e no Líbano, estavam em contradição direta com as aspirações de independência dos árabes. Os franceses opunham-se resolutamente à criação de um reino árabe unificado sob o comando de Faisal, prevendo, em vez disso, colocar estes territórios sob o seu controlo no âmbito do sistema de mandatos da Liga das Nações. Perante esta oposição, e consciente da necessidade de reforçar a sua posição política, Faisal negociou um acordo com o primeiro-ministro francês Georges Clemenceau. Este acordo tinha como objetivo estabelecer um protetorado francês sobre a Síria, o que estava em contradição com as aspirações dos nacionalistas árabes. Faisal manteve o acordo em segredo dos seus apoiantes, que continuaram a lutar pela independência total.
Entretanto, estava a ser formado um Estado sírio. Sob a direção de Faisal, foram envidados esforços para lançar as bases de um Estado moderno, com reformas na educação, a criação de uma administração pública, o estabelecimento de um exército e o desenvolvimento de políticas para reforçar a identidade e a soberania nacionais. Apesar destes desenvolvimentos, a situação na Síria continuava a ser precária. O acordo secreto com Clemenceau e a falta de apoio britânico colocaram Faisal numa posição difícil. Por fim, a França assumiu o controlo direto da Síria em 1920, após a Batalha de Maysaloun, pondo fim às esperanças de Faisal de criar um reino árabe independente. Faisal foi expulso da Síria pelos franceses, mas mais tarde tornar-se-ia rei do Iraque, outro Estado recém-formado sob o mandato britânico.
Síria sob o mandato francês: os acordos Sykes-Picot[modifier | modifier le wikicode]
Os acordos Sykes-Picot, concluídos em 1916 entre a Grã-Bretanha e a França, estabeleceram uma divisão de influência e controlo sobre os territórios do antigo Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. Nos termos destes acordos, a França deveria controlar o que é atualmente a Síria e o Líbano, enquanto a Grã-Bretanha deveria controlar o Iraque e a Palestina. Em julho de 1920, a França procurou consolidar o seu controlo sobre os territórios que lhe tinham sido prometidos pelos acordos Sykes-Picot. A Batalha de Maysaloun foi travada entre as forças francesas e as tropas do efémero Reino Árabe Sírio, sob o comando do Rei Faisal. As forças de Faisal, mal equipadas e mal preparadas, foram largamente ultrapassadas em número pelo exército francês, mais bem equipado e treinado. A derrota na Batalha de Maysaloun foi um golpe devastador para as aspirações árabes à independência e pôs fim ao reinado de Faisal na Síria. Na sequência desta derrota, foi obrigado a exilar-se. Este acontecimento marcou o estabelecimento do mandato francês sobre a Síria, que foi oficialmente reconhecido pela Sociedade das Nações, apesar das aspirações de autodeterminação do povo sírio. O estabelecimento de mandatos deveria preparar os territórios para uma eventual autonomia e independência, mas na prática funcionou frequentemente como uma conquista e administração colonial. As populações locais encararam largamente os mandatos como uma continuação do colonialismo europeu e o período do mandato francês na Síria foi marcado por uma significativa rebelião e resistência. Este período moldou muitas das dinâmicas políticas, sociais e nacionais da Síria, influenciando a história e a identidade do país até aos dias de hoje.
Fragmentação e administração francesa na Síria[modifier | modifier le wikicode]
Após ter estabelecido o controlo sobre os territórios sírios na sequência da batalha de Maysaloun, a França, sob a autoridade do mandato da Sociedade das Nações, começou a reestruturar a região de acordo com os seus próprios desígnios administrativos e políticos. Esta reestruturação implicava frequentemente a divisão dos territórios segundo linhas sectárias ou étnicas, uma prática comum da política colonial que tinha por objetivo fragmentar e enfraquecer os movimentos nacionalistas locais.
Na Síria, as autoridades mandatárias francesas dividiram o território em várias entidades, incluindo o Estado das Alepinas, o Estado Damasceno, o Estado Alawita e o Grande Líbano, este último transformado na moderna República Libanesa. Estas divisões reflectiam, em parte, as complexas realidades socioculturais da região, mas foram também concebidas para impedir a emergência de uma unidade árabe que pudesse desafiar o domínio francês, dando corpo à estratégia de "dividir para reinar". O Líbano, em particular, foi criado com uma identidade distinta, em grande parte para servir os interesses das comunidades cristãs maronitas, que tinham laços históricos com a França. A criação destes diferentes Estados no interior da Síria obrigatória conduziu a uma fragmentação política que complicou os esforços de unificação do movimento nacional.
A França administrou estes territórios de forma semelhante aos seus departamentos metropolitanos, impondo uma estrutura centralizada e colocando altos comissários para governar os territórios em nome do governo francês. Esta administração direta foi acompanhada pela rápida criação de instituições administrativas e educativas com o objetivo de assimilar as populações locais à cultura francesa e reforçar a presença francesa na região. No entanto, esta política exacerbou as frustrações árabes, uma vez que muitos sírios e libaneses aspiravam à independência e ao direito de determinar o seu próprio futuro político. As políticas francesas eram frequentemente vistas como uma continuação da ingerência ocidental e alimentavam o sentimento nacionalista e anti-colonialista. Em resposta a estas medidas, eclodiram motins e revoltas, nomeadamente a Grande Revolta Síria de 1925-1927, que foi violentamente reprimida pelos franceses. O legado deste período deixou marcas duradouras na Síria e no Líbano, moldando as suas fronteiras, estruturas políticas e identidades nacionais. As tensões e divisões estabelecidas durante o mandato francês continuaram a influenciar a dinâmica política e comunitária destes países muito depois da sua independência.
A Revolta de 1925-1927 e a Repressão Francesa[modifier | modifier le wikicode]
A Grande Revolta Síria, que eclodiu em 1925, foi um episódio-chave na resistência contra o Mandato Francês na Síria. Começou entre a população drusa de Jabal al-Druze (Montanha dos Drusos), no sul da Síria, e rapidamente se estendeu a outras regiões, incluindo a capital, Damasco. Os drusos, que tinham gozado de uma certa autonomia e privilégio sob o domínio otomano, viram-se marginalizados e os seus poderes reduzidos durante o mandato francês. A sua insatisfação com a perda de autonomia e com as políticas impostas pelos franceses, que procuravam centralizar a administração e enfraquecer os poderes locais tradicionais, foi a faísca que desencadeou a revolta. A revolta espalhou-se e cresceu, ganhando o apoio de vários segmentos da sociedade síria, incluindo nacionalistas árabes que se opunham ao domínio estrangeiro e às divisões administrativas impostas pela França. A reação das autoridades francesas por procuração foi extremamente dura. Recorreram a bombardeamentos aéreos, a execuções em massa e à exibição pública dos cadáveres dos insurrectos para dissuadir a resistência.
As acções repressivas dos franceses, que incluíram a destruição de aldeias e a brutalidade para com os civis, foram amplamente condenadas e mancharam a reputação da França, tanto a nível internacional como entre a população local. Embora a revolta tenha acabado por ser esmagada, ficou gravada na memória colectiva síria como um símbolo da luta pela independência e pela dignidade nacional. A Grande Revolta Síria teve também implicações a longo prazo na política síria, reforçando o sentimento anti-colonial e ajudando a forjar uma identidade nacional síria. Contribuiu igualmente para alterar a política francesa, que teve de ajustar a sua abordagem do mandato na Síria, o que acabou por conduzir a uma maior autonomia da Síria nos anos que se seguiram.
O caminho para a independência da Síria[modifier | modifier le wikicode]
A gestão do mandato francês na Síria foi marcada por políticas que se assemelhavam mais a uma administração colonial do que a uma tutela benevolente conducente à auto-independência, contrariamente ao que o sistema de mandatos da Sociedade das Nações teoricamente previa. A repressão da Grande Revolta Síria e a centralização administrativa reforçaram os sentimentos nacionalistas e anti-coloniais na Síria, que continuaram a crescer apesar da opressão.
A ascensão do nacionalismo sírio, juntamente com as mudanças geopolíticas mundiais, acabou por conduzir à independência do país. Após a Segunda Guerra Mundial, num mundo que se voltava cada vez mais contra o colonialismo, a França foi obrigada a reconhecer a independência da Síria em 1946. No entanto, esta transição para a independência foi complicada pelas manobras políticas regionais e pelas alianças internacionais, nomeadamente com a Turquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia manteve uma posição neutra durante a maior parte do conflito, mas as suas relações com a Alemanha nazi causaram preocupação entre os Aliados. Num esforço para garantir a neutralidade turca ou para evitar que a Turquia se aliasse às potências do Eixo, a França teve um gesto diplomático ao ceder a região de Hatay (historicamente conhecida como Antioquia e Alexandria) à Turquia.
A região de Hatay era de importância estratégica e tinha uma população mista, com comunidades turcas, árabes e arménias. A questão da sua adesão tem sido um pomo de discórdia entre a Síria e a Turquia desde o desmembramento do Império Otomano. Em 1939, realizou-se um plebiscito, cuja legitimidade foi contestada pelos sírios, que conduziu à anexação formal da região à Turquia. A cessão de Hatay foi um golpe para o sentimento nacional sírio e deixou uma cicatriz nas relações turco-sírias que perdura até hoje. Para a Síria, a perda de Hatay é frequentemente vista como um ato de traição por parte da França e um exemplo doloroso de manipulação territorial por parte das potências coloniais. Para a Turquia, a anexação de Hatay foi vista como a retificação de uma divisão injusta do povo turco e a recuperação de um território historicamente ligado ao Império Otomano.
Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França foi derrotada e ocupada pela Alemanha nazi em 1940, foi estabelecido o governo de Vichy, um regime colaboracionista liderado pelo marechal Philippe Pétain. Este regime assumiu também o controlo dos territórios ultramarinos franceses, incluindo o mandato francês no Líbano. O governo de Vichy, alinhado com as potências do Eixo, permitiu que as forças alemãs utilizassem as infra-estruturas militares do Líbano, o que constituía um risco para a segurança dos Aliados, em particular dos britânicos, que estavam envolvidos numa campanha militar no Médio Oriente. A presença do Eixo no Líbano era vista como uma ameaça direta aos interesses britânicos, sobretudo devido à proximidade de campos de petróleo e de rotas de transporte estratégicas. Os britânicos e as Forças Francesas Livres, lideradas pelo general Charles de Gaulle e opositoras ao regime de Vichy, lançaram a Operação Exportador em 1941. O objetivo desta campanha militar era tomar o controlo do Líbano e da Síria e eliminar a presença das forças do Eixo na região. Após duros combates, as tropas britânicas e as Forças Francesas Livres conseguiram tomar o controlo do Líbano e da Síria, e o regime de Vichy foi expulso.
No final da guerra, a pressão britânica e a mudança de atitude internacional em relação ao colonialismo obrigaram a França a reconsiderar a sua posição no Líbano. Em 1943, os dirigentes libaneses negociaram com as autoridades francesas a independência do país. Embora a França tenha tentado inicialmente manter a sua influência e tenha mesmo detido brevemente o novo governo libanês, a pressão internacional e as revoltas populares acabaram por levar a França a reconhecer a independência do Líbano. O dia 22 de novembro de 1943 é celebrado como o Dia da Independência do Líbano, assinalando o fim oficial do mandato francês e o nascimento do Líbano como Estado soberano. Esta transição para a independência foi um momento fundamental para o Líbano e lançou as bases para o futuro do país como nação independente.
Após a independência, a Síria adoptou uma política pan-árabe e nacionalista, em parte em reação à era do mandato e aos desafios colocados pela formação do Estado de Israel e pelo conflito israelo-árabe. O sentimento nacionalista foi exacerbado pela frustração face às divisões internas, à interferência estrangeira e a um sentimento de humilhação face às experiências coloniais.
A participação da Síria na guerra israelo-árabe de 1948 contra o recém-formado Estado de Israel foi motivada por estes sentimentos nacionalistas e pan-árabes, bem como pela pressão da solidariedade árabe. No entanto, a derrota dos exércitos árabes nesta guerra teve consequências profundas para a região, incluindo a Síria. Deu origem a um período de instabilidade política interna, marcado por uma série de golpes militares que caracterizaram a política síria nos anos que se seguiram. A derrota de 1948 e os problemas internos que se lhe seguiram exacerbaram a desconfiança do público sírio em relação aos dirigentes civis e aos políticos, que eram frequentemente considerados corruptos ou ineficazes. O exército tornou-se a instituição mais estável e poderosa do Estado e foi o principal interveniente nas frequentes mudanças de governo. Os golpes militares tornaram-se um método comum de mudança de governo, reflectindo as profundas divisões políticas, ideológicas e sociais do país.
Este ciclo de instabilidade preparou o caminho para a ascensão do Partido Baath, que finalmente tomou o poder em 1963. O Partido Baath, com a sua ideologia socialista pan-árabe, procurou reformar a sociedade síria e reforçar o Estado, mas também conduziu a um governo mais autoritário e centralizado, dominado pelo aparelho militar e de segurança. As tensões internas da Síria, aliadas às complexas relações com os países vizinhos e às dinâmicas regionais, fizeram da história contemporânea do país um período de turbulência política, que acabou por culminar na guerra civil síria iniciada em 2011.
Instabilidade política e ascensão do Partido Baath[modifier | modifier le wikicode]
O Baathismo, ideologia política árabe que defende o socialismo, o pan-arabismo e o secularismo, começou a ganhar terreno no mundo árabe durante a década de 1950. Na Síria, onde os sentimentos pan-árabes foram particularmente fortes após a independência, a ideia de unidade árabe foi favorecida, especialmente após a instabilidade política interna. As aspirações pan-árabes da Síria levaram-na a procurar uma união mais estreita com o Egipto, então liderado por Gamal Abdel Nasser, um líder carismático cuja popularidade se estendia muito para além das fronteiras do Egipto, sobretudo devido à nacionalização do Canal do Suez e à sua oposição ao imperialismo. Nasser era visto como o campeão do pan-arabismo e tinha conseguido promover uma visão de unidade e cooperação entre os Estados árabes. Em 1958, esta aspiração à unidade conduziu à formação da República Árabe Unida (RUA), uma união política entre o Egipto e a Síria. Este acontecimento foi saudado como um passo importante para a unidade árabe e suscitou grandes esperanças para o futuro político do mundo árabe.
No entanto, a união não tardou a dar sinais de tensão. Embora a UAR fosse apresentada como uma união de iguais, na prática a liderança política do Egipto e de Nasser tornou-se predominante. As instituições políticas e económicas da UAR estavam em grande parte centralizadas no Cairo e a Síria começou a sentir que estava a ser reduzida ao estatuto de província egípcia e não de parceiro igual na união. Estas tensões foram exacerbadas pelas diferenças entre as estruturas políticas, económicas e sociais dos dois países. O domínio egípcio e a frustração crescente na Síria acabaram por levar à dissolução da RAU em 1961, quando oficiais militares sírios lideraram um golpe que separou a Síria da união. A experiência da RAU deixou um legado ambivalente: por um lado, mostrou o potencial da unidade árabe, mas, por outro, revelou os desafios práticos e ideológicos a ultrapassar para se conseguir uma verdadeira integração política entre os Estados árabes.
Em 28 de setembro de 1961, um grupo de oficiais militares sírios, insatisfeitos com a excessiva centralização do poder no Cairo e com o domínio egípcio no seio da República Árabe Unida (RUA), liderou um golpe de Estado que marcou o fim da união entre a Síria e o Egipto. A revolta foi motivada principalmente por sentimentos nacionalistas e regionalistas na Síria, onde muitos cidadãos e políticos se sentiam marginalizados e negligenciados pelo governo da RAU liderado por Nasser. A dissolução da RAU exacerbou a instabilidade política já existente na Síria, que tinha sofrido uma série de golpes de Estado desde a sua independência em 1946. A separação do Egipto foi recebida com alívio por muitos sírios que estavam preocupados com a perda da soberania e da autonomia do seu país. No entanto, criou também um vazio político que vários grupos e facções, incluindo o Partido Baath, procuraram explorar. O golpe de Estado de 1961 abriu assim caminho a um período de intenso conflito político na Síria, que levaria o partido Baath ao poder em 1963. Sob a liderança do Baath, a Síria adoptaria uma série de reformas socialistas e pan-árabes, ao mesmo tempo que estabeleceria um regime autoritário que dominaria a vida política síria durante várias décadas. O período que se seguiu ao golpe de 1961 foi marcado por tensões entre as facções baathistas e outros grupos políticos, cada um procurando impor a sua visão do futuro da Síria.
Após um período de instabilidade política e de sucessivos golpes de Estado, a Síria conheceu uma viragem decisiva em 1963, com a chegada ao poder do partido Baath. Este movimento, fundado nos princípios do pan-arabismo e do socialismo, visava transformar a sociedade síria através da promoção de uma identidade árabe unificada e da aplicação de reformas sociais e económicas de grande alcance. O Partido Baath, sob a direção de Michel Aflaq e Salah al-Din al-Bitar, emergiu como uma força política importante, defendendo uma visão do socialismo adaptada às características específicas do mundo árabe. A sua ideologia combinava a promoção de um Estado laico com políticas socialistas, como a nacionalização das indústrias-chave e a reforma agrária, destinada a redistribuir as terras aos camponeses e a modernizar a agricultura.
No domínio da educação, o governo baathista iniciou reformas destinadas a aumentar a literacia e a incutir valores socialistas e pan-árabes. Estas reformas tinham por objetivo forjar uma nova identidade nacional, centrada na história e na cultura árabes, promovendo simultaneamente a ciência e a tecnologia como meios de modernização. Ao mesmo tempo, a Síria atravessou um período de secularização acelerada. O partido Ba'ath esforçou-se por reduzir o papel da religião nos assuntos do Estado, procurando criar uma sociedade mais homogénea do ponto de vista ideológico, gerindo simultaneamente a diversidade religiosa e étnica do país.
No entanto, estas reformas foram também acompanhadas por um aumento do autoritarismo. O partido Ba'ath consolidou a sua posição no poder, limitando as liberdades políticas e reprimindo todas as formas de oposição. As tensões internas no seio do partido e da sociedade síria continuaram a manifestar-se, culminando na ascensão de Hafez al-Assad ao poder em 1970. Sob Assad, a Síria prosseguiu na via do socialismo árabe, mas com um controlo ainda mais forte do regime sobre a sociedade e a política. O período baathista na Síria caracterizou-se assim por uma mistura de modernização e autoritarismo, reflectindo as complexidades da aplicação de uma ideologia socialista e pan-árabe num contexto de diversidade cultural e de desafios políticos internos e externos. Esta era lançou as bases do desenvolvimento político e social da Síria nas décadas seguintes, influenciando profundamente a história contemporânea do país.
A era de Hafez al-Assad: consolidação do poder[modifier | modifier le wikicode]
A evolução do Partido Baath na Síria foi marcada por lutas internas pelo poder e divisões ideológicas, que culminaram num golpe de Estado em 1966. Este golpe foi orquestrado por uma fação mais radicalmente socialista do partido, que procurou impor uma linha política mais rigorosa e mais alinhada com os princípios socialistas e pan-árabes. Esta mudança conduziu a um período de governação mais dogmática e ideologicamente rígida. A nova liderança do Partido Baath continuou a implementar reformas socialistas, reforçando simultaneamente o controlo estatal sobre a economia e acentuando a retórica pan-árabe. No entanto, a derrota da Síria e de outros países árabes por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, constituiu um rude golpe para a legitimidade do Partido Baath e para a visão pan-árabe em geral. A perda dos montes Golã para Israel e a incapacidade de atingir os objectivos da guerra conduziram à desilusão e ao questionamento da orientação política do país. Este período foi marcado pelo caos e pelo aumento da instabilidade, agravando as tensões internas na Síria.
Neste contexto, Hafez al-Assad, então Ministro da Defesa, aproveitou a oportunidade para consolidar o seu poder. Em 1970, liderou um golpe militar bem sucedido, expulsando a liderança radical do partido Baath e assumindo o controlo do governo. Assad mudou a direção do Partido Baath e do Estado sírio, centrando-se mais na estabilização do país e no nacionalismo sírio do que no pan-arabismo. Sob a liderança de Assad, a Síria viveu um período de relativa estabilização e consolidação do poder. Assad estabeleceu um regime autoritário, controlando rigorosamente todos os aspectos da vida política e social. Procurou também reforçar o exército e os serviços de segurança, estabelecendo um regime centrado na segurança e na sobrevivência do poder. A tomada do poder por Hafez al-Assad em 1970 marcou, assim, um ponto de viragem na história moderna da Síria, inaugurando uma era de governação mais centralizada e autoritária que viria a moldar o futuro do país nas décadas seguintes.
Depois de tomar o poder na Síria em 1970, Hafez al-Assad apercebeu-se rapidamente de que precisava de uma base social sólida e de um certo grau de legitimidade para manter o seu regime. Para consolidar o seu poder, apoiou-se na sua comunidade de origem, os alauítas, uma seita minoritária do xiismo. Assad colocou estrategicamente membros da comunidade alawita em posições-chave no exército, nos serviços de segurança e na administração do governo. Esta abordagem assegurou a lealdade das instituições mais importantes ao seu regime. Embora mantendo uma retórica pan-árabe no discurso oficial, Assad centrou o poder em torno da nação síria, distanciando assim a política síria da ambição mais alargada do pan-arabismo. Adoptou uma abordagem pragmática da política interna e externa, procurando estabilizar o país e consolidar o seu poder.
O regime de Assad tem utilizado tácticas de divisão e conquista, semelhantes às utilizadas pelos franceses durante o Mandato, para gerir a diversidade étnica e religiosa da Síria. Ao fragmentar e manipular as diferentes comunidades, o regime tem procurado impedir o aparecimento de uma oposição unificada. A repressão política tornou-se uma imagem de marca do regime, que dispõe de um aparelho de segurança extenso e eficaz para vigiar e controlar a sociedade. Apesar da purga de muitas facções da oposição, o regime de Assad tem enfrentado um desafio significativo por parte dos grupos islamistas. Estes grupos, que gozam de uma forte base social, nomeadamente entre as populações sunitas mais conservadoras, têm representado uma oposição persistente ao regime secular alauíta de Assad. A tensão entre o governo e os grupos islamistas culminou com a revolta na cidade de Hamah em 1982, que foi brutalmente reprimida pelo regime. O reinado de Hafez al-Assad na Síria caracterizou-se, portanto, por uma centralização do poder, uma política de repressão e uma certa estabilização do país, mas também por uma gestão complexa e muitas vezes conflituosa da diversidade sociopolítica do país.
O massacre de Hamah, em 1982, é um dos episódios mais negros e sangrentos da história moderna da Síria. Esta repressão brutal foi ordenada por Hafez al-Assad em resposta a uma insurreição liderada pela Irmandade Muçulmana na cidade de Hamah. Hamah, uma cidade com uma forte presença islamista e um bastião de oposição às políticas seculares e alauítas do regime de Assad, tornou-se o centro de uma revolta armada contra o governo. Em fevereiro de 1982, as forças de segurança sírias, lideradas pelo irmão de Assad, Rifaat al-Assad, cercaram a cidade e lançaram uma ofensiva militar maciça para esmagar a rebelião. A repressão foi implacável e desproporcionada. As forças governamentais utilizaram bombardeamentos aéreos, artilharia pesada e tropas terrestres para destruir grandes partes da cidade e eliminar os insurrectos. O número exato de vítimas permanece incerto, mas as estimativas sugerem que milhares de pessoas, talvez 20.000 ou mais, foram mortas. Muitos civis perderam a vida naquilo que foi descrito como um ato de punição colectiva. O massacre de Hamah não foi apenas uma operação militar; teve também uma forte dimensão simbólica. O seu objetivo era enviar uma mensagem clara a qualquer potencial oposição ao regime de Assad: a rebelião seria enfrentada com uma força esmagadora e implacável. A destruição de Hamah serviu de aviso e reprimiu a dissidência na Síria durante anos. Esta repressão também deixou marcas profundas na sociedade síria e foi um ponto de viragem na forma como o regime de Assad era visto, tanto a nível nacional como internacional. O massacre de Hamah tornou-se um símbolo da opressão brutal na Síria e contribuiu para a imagem do regime de Assad como um dos mais repressivos do Médio Oriente.
O regime de Hafez al-Assad na Síria teve de navegar nas complexas águas da legitimidade religiosa, em especial devido ao facto de pertencer à comunidade alauíta, um ramo do xiismo frequentemente visto com desconfiança pela maioria sunita na Síria. Para estabelecer a sua legitimidade e a do seu regime aos olhos da maioria sunita, Assad teve de recorrer a figuras religiosas sunitas para desempenharem funções de fatwa e outros cargos religiosos importantes. Estas figuras eram responsáveis pela interpretação da lei islâmica e pela justificação religiosa das acções do regime. A posição dos alauítas como minoria religiosa num país predominantemente sunita foi sempre um desafio para Assad, que teve de equilibrar os interesses e as percepções das diferentes comunidades para manter o seu poder. Embora os alauítas tenham sido colocados em posições-chave no governo e no exército, Assad também procurou apresentar-se como um líder de todos os sírios, independentemente da sua filiação religiosa.
Síria contemporânea: de Hafez a Bashar al-Assad[modifier | modifier le wikicode]
Quando Hafez al-Assad morreu em 2000, sucedeu-lhe o seu filho, Bashar al-Assad. Bashar, inicialmente visto como um potencial reformador e agente de mudança, herdou um sistema de governação complexo e autoritário. Sob a sua liderança, a Síria continuou a enfrentar os desafios colocados pela sua diversidade religiosa e étnica, bem como as pressões internas e externas. O reinado de Bashar al-Assad tem sido marcado por tentativas de reforma e modernização, mas também pela continuidade na consolidação do poder e na manutenção da estrutura autoritária herdada do seu pai. A situação na Síria mudou radicalmente com o início da revolta popular em 2011, que evoluiu para uma guerra civil complexa e devastadora, envolvendo múltiplos actores internos e externos e tendo profundas repercussões na região e fora dela.
Líbano[modifier | modifier le wikicode]
Dominação Otomana e Mosaico Cultural (Século XVI - Primeira Guerra Mundial)[modifier | modifier le wikicode]
O Líbano, com a sua história rica e complexa, foi influenciado por várias potências e culturas ao longo dos séculos. Desde o século XVI até ao final da Primeira Guerra Mundial, o território que é hoje o Líbano esteve sob o controlo do Império Otomano. Neste período, desenvolveu-se um mosaico cultural e religioso distinto, caracterizado pela diversidade étnica e confessional.
Dois grupos em particular, os drusos e os maronitas (uma comunidade cristã oriental), desempenharam um papel central na história do Líbano. Estas duas comunidades têm estado frequentemente em conflito entre si, em parte devido às suas diferenças religiosas e à sua luta pelo poder político e social na região. Os drusos, uma minoria religiosa que se desenvolveu a partir do islamismo xiita ismaelita, estabeleceram-se principalmente nas montanhas do Líbano e da Síria. Mantiveram uma identidade distinta e exerceram frequentemente um poder político e militar significativo nas suas regiões. Os maronitas, por outro lado, são uma comunidade cristã oriental em comunhão com a Igreja Católica Romana. Estabeleceram-se principalmente nas montanhas do Líbano, onde desenvolveram uma forte identidade cultural e religiosa. Os maronitas estabeleceram também laços estreitos com as potências europeias, nomeadamente com a França, que exerceu uma influência significativa na história e na política libanesas. A coexistência e, por vezes, o confronto entre estas comunidades, bem como com outros grupos, como os sunitas, os xiitas e os ortodoxos, moldaram a história sociopolítica do Líbano. Estas dinâmicas desempenharam um papel fundamental na formação da identidade libanesa e influenciaram a estrutura política do Líbano moderno, nomeadamente o sistema confessional de partilha do poder, que procura equilibrar a representação dos vários grupos religiosos.
Mandato francês e reestruturação administrativa (pós I Guerra Mundial - 1943)[modifier | modifier le wikicode]
Durante o mandato francês no Líbano, a França tentou mediar entre as diferentes comunidades religiosas e étnicas do país, criando ao mesmo tempo uma estrutura administrativa que reflectia e reforçava a diversidade do Líbano. Antes do estabelecimento do mandato francês, o Monte Líbano gozava já de uma certa autonomia sob o Império Otomano, nomeadamente após a criação da Mutasarrifiyyah em 1861. A Mutasarrifiyyah do Monte Líbano era uma região autónoma com o seu próprio governador cristão, criada em resposta aos conflitos entre maronitas cristãos e drusos muçulmanos que tinham eclodido nas décadas de 1840 e 1860. Esta estrutura destinava-se a atenuar as tensões, proporcionando uma governação mais equilibrada e um certo grau de autonomia à região.
Quando a França assumiu o controlo do Líbano após a Primeira Guerra Mundial, herdou esta estrutura complexa e procurou manter um equilíbrio entre as diferentes comunidades. O mandato francês alargou as fronteiras do Monte Líbano às zonas de grande população muçulmana, formando o Grande Líbano em 1920. Esta expansão tinha por objetivo criar um Estado libanês mais viável do ponto de vista económico, mas introduziu também novas dinâmicas demográficas e políticas. O sistema político no Líbano sob o mandato francês baseava-se num modelo de consociacionismo, em que o poder era partilhado entre as diferentes comunidades religiosas. Este sistema tinha por objetivo assegurar uma representação equitativa dos principais grupos religiosos do Líbano na administração e na política e lançou as bases do sistema político confessional que caracteriza o Líbano moderno. No entanto, o mandato francês não foi isento de controvérsia. As políticas francesas foram por vezes consideradas como favorecendo algumas comunidades em detrimento de outras e houve resistência ao domínio estrangeiro. Não obstante, o mandato desempenhou um papel significativo na formação do Estado libanês e na definição da sua identidade nacional.
Durante a Conferência de Paz de Paris, em 1919, que se seguiu ao fim da Primeira Guerra Mundial, a França desempenhou um papel estratégico ao influenciar o processo de decisão sobre o futuro dos territórios do Médio Oriente, incluindo o Líbano. A presença de duas delegações libanesas nesta conferência foi uma manobra da França para contrariar as pretensões de Faisal, líder do Reino Árabe da Síria, que pretendia criar um Estado árabe independente que incluísse o Líbano.
Fayçal, apoiado pelos nacionalistas árabes, reivindicava um grande Estado árabe independente que se estendesse por uma grande parte do Levante, incluindo o Líbano. Estas exigências estavam em contradição direta com os interesses franceses na região, que incluíam o estabelecimento de um mandato sobre o Líbano e a Síria. Para contrariar a influência de Faisal e justificar o seu próprio mandato sobre a região, os franceses incentivaram a formação de delegações libanesas compostas por representantes cristãos maronitas e outros grupos favoráveis à ideia de um Líbano sob mandato francês. Estas delegações eram enviadas a Paris para pedir a proteção francesa e para sublinhar a identidade distinta do Líbano em relação à Síria e as aspirações pan-árabes de Faisal. Ao apresentar estas delegações como representativas das aspirações do povo libanês, a França procurou legitimar a sua reivindicação de um mandato sobre o Líbano e demonstrar que uma parte significativa da população libanesa preferia a proteção francesa à integração num Estado árabe unificado sob a égide de Faisal. Esta manobra contribuiu para moldar o resultado da conferência e desempenhou um papel importante no estabelecimento dos mandatos francês e britânico no Médio Oriente, em conformidade com os acordos Sykes-Picot.
Luta pela independência e confessionalismo (1919 - 1943)[modifier | modifier le wikicode]
A criação do moderno Estado libanês em 1921, sob o mandato francês, foi marcada pela adoção de um sistema político comunal único, conhecido como "confessionalismo político". Este sistema tinha como objetivo gerir a diversidade religiosa e étnica do Líbano, atribuindo o poder político e os cargos governamentais de acordo com a distribuição demográfica das diferentes comunidades confessionais. O confessionalismo libanês foi concebido para assegurar uma representação equitativa de todas as principais comunidades religiosas do país. De acordo com este sistema, os principais cargos governamentais, incluindo o Presidente, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia Nacional, estavam reservados a membros de comunidades específicas: o Presidente tinha de ser um cristão maronita, o Primeiro-Ministro um muçulmano sunita e o Presidente da Assembleia um muçulmano xiita. Esta distribuição de cargos baseou-se num recenseamento da população efectuado em 1932.
Apesar de ter sido concebido para promover a coexistência pacífica e o equilíbrio entre as diferentes comunidades, este sistema foi criticado por institucionalizar as divisões confessionais e encorajar uma política baseada na identidade comunitária e não em programas políticos ou ideologias. Além disso, o sistema era frágil, pois dependia de dados demográficos que podiam mudar com o tempo. As elites políticas e os líderes comunitários, embora inicialmente apoiassem o sistema como garantia de representação e influência, sentiram-se cada vez mais frustrados com as suas limitações e fraquezas. O sistema foi também pressionado por factores externos, nomeadamente o afluxo de refugiados palestinianos após a criação do Estado de Israel em 1948 e os ideais do pan-arabismo, que desafiavam a ordem política confessional do Líbano. Estes factores contribuíram para os desequilíbrios demográficos e para o aumento das tensões políticas e confessionais no país. O sistema confessional, embora constituísse uma tentativa de gerir a diversidade do Líbano, foi, em última análise, um fator-chave da instabilidade política que conduziu à guerra civil libanesa de 1975-1990. Esta guerra deixou uma marca profunda no Líbano e revelou as limitações e os desafios do sistema confessional na gestão da diversidade e da coesão nacional.
Guerra Civil Libanesa: Causas e Impacto Internacional (1975 - 1990)[modifier | modifier le wikicode]
A Guerra Civil Libanesa, que começou em 1975, foi influenciada por muitos factores internos e externos, em particular as crescentes tensões ligadas à presença palestiniana no Líbano. A chegada maciça de refugiados e combatentes palestinianos ao Líbano, sobretudo após os acontecimentos do "setembro Negro" na Jordânia em 1970, foi um dos principais factores que desencadearam a guerra civil. Em setembro de 1970, o rei Hussein da Jordânia lançou uma campanha militar para expulsar da Jordânia a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e outros grupos armados palestinianos, na sequência das crescentes tentativas destes grupos de interferirem nos assuntos internos da Jordânia. Esta campanha, conhecida como "setembro Negro", levou a um grande afluxo de palestinianos ao Líbano, exacerbando as tensões existentes no país. A presença crescente de palestinianos armados e o ativismo da OLP contra Israel a partir de solo libanês acrescentaram uma nova dimensão ao conflito libanês, complicando ainda mais a já frágil situação política. Os grupos palestinianos, sobretudo no sul do Líbano, entraram frequentemente em conflito com as comunidades libanesas locais e participaram em ataques transfronteiriços contra Israel.
Em resposta a estes ataques e à presença da OLP, Israel lançou várias operações militares no Líbano, que culminaram com a invasão do Líbano em 1982. A ocupação israelita do Sul do Líbano foi motivada pelo desejo de Israel de proteger as suas fronteiras setentrionais e de desmantelar a base de operações da OLP. A guerra civil libanesa foi, portanto, alimentada por uma mistura de tensões internas, conflitos sectários, desequilíbrios demográficos e factores externos, incluindo intervenções israelitas e dinâmicas regionais ligadas ao conflito israelo-árabe. Esta guerra, que durou até 1990, foi devastadora para o Líbano, tendo provocado uma enorme perda de vidas, a deslocação maciça de populações e uma destruição generalizada. Transformou profundamente a sociedade e a política libanesas e deixou marcas que continuam a afetar o país.
A influência síria e os Acordos de Taif (1976 - 2005)[modifier | modifier le wikicode]
A guerra civil libanesa e a intervenção síria no conflito são elementos fundamentais para compreender a história recente do Líbano. A Síria, sob a liderança de Hafez al-Assad, desempenhou um papel complexo e por vezes contraditório na guerra civil libanesa. A Síria, com os seus próprios interesses geopolíticos no Líbano, interveio no conflito logo em 1976. Oficialmente, esta intervenção foi justificada como um esforço para estabilizar o Líbano e evitar uma escalada do conflito. No entanto, muitos observadores notaram que a Síria também tinha ambições de expansão e controlo sobre o Líbano, que estava histórica e culturalmente ligado à Síria. Durante a guerra, a Síria apoiou várias facções e comunidades libanesas, muitas vezes de acordo com os seus interesses estratégicos na altura. Este envolvimento foi por vezes visto como uma tentativa da Síria de exercer a sua influência e reforçar a sua posição no Líbano. A guerra civil terminou finalmente com os Acordos de Taif em 1989, um acordo de paz negociado com o apoio da Liga Árabe e sob a supervisão da Síria. Os Acordos de Taif redefiniram o equilíbrio político confessional no Líbano, alterando o sistema de partilha do poder de modo a refletir melhor a atual demografia do país. Previam igualmente o fim da guerra civil e a criação de um governo de reconciliação nacional.
No entanto, os acordos também consolidaram a influência síria no Líbano. Após a guerra, a Síria manteve uma presença militar e uma influência política consideráveis no país, o que constituiu uma fonte de tensão e de controvérsia no Líbano e na região. A presença síria no Líbano só terminou em 2005, na sequência do assassinato do antigo Primeiro-Ministro libanês Rafik Hariri, um acontecimento que desencadeou protestos maciços no Líbano e aumentou a pressão internacional sobre a Síria. A decisão de não realizar um recenseamento da população no Líbano após a guerra civil reflecte as sensibilidades em torno da questão demográfica no contexto político confessional do Líbano. Um recenseamento poderia perturbar o delicado equilíbrio em que assenta o sistema político libanês, revelando alterações demográficas susceptíveis de pôr em causa a atual distribuição do poder entre as diferentes comunidades.
Assassinato de Rafiq Hariri e Revolução do Cedro (2005)[modifier | modifier le wikicode]
O assassinato do Primeiro-Ministro libanês Rafiq Hariri, em 14 de fevereiro de 2005, foi um momento decisivo na história recente do Líbano. Hariri era uma figura popular, conhecido pela sua política de reconstrução pós-guerra civil e pelos seus esforços para restabelecer Beirute como centro financeiro e cultural. O seu assassinato provocou uma onda de choque em todo o país e desencadeou acusações contra a Síria, que era suspeita de estar envolvida. O assassínio desencadeou a "Revolução do Cedro", uma série de manifestações pacíficas em grande escala que exigiam o fim da influência síria no Líbano e a verdade sobre o assassínio de Hariri. Estas manifestações, que contaram com a participação de centenas de milhares de libaneses de todas as confissões religiosas, exerceram uma pressão considerável sobre a Síria. Sob o peso desta pressão popular e da condenação internacional, a Síria retirou finalmente as suas tropas do Líbano em abril de 2005, pondo fim a quase 30 anos de presença militar e política no país.
Líbano Contemporâneo: Desafios Políticos e Sociais (2005 - Presente)[modifier | modifier le wikicode]
Ao mesmo tempo, o Hezbollah, um grupo islamista xiita e uma organização militar fundada em 1982, tornou-se um ator-chave na política libanesa. O Hezbollah foi fundado com o apoio do Irão no contexto da invasão israelita do Líbano em 1982 e tornou-se um movimento político e uma poderosa milícia. O partido recusou-se a desarmar após a guerra civil, invocando a necessidade de defender o Líbano contra Israel. O conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah reforçou ainda mais a posição do Hezbollah como uma das principais forças da resistência árabe contra Israel. O conflito começou quando o Hezbollah capturou dois soldados israelitas, desencadeando uma intensa resposta militar israelita no Líbano. Apesar da destruição maciça e da perda de vidas humanas no Líbano, o Hezbollah saiu do conflito com uma imagem reforçada de resistência contra Israel, ganhando um apoio considerável entre uma parte da população libanesa e no mundo árabe em geral. Estes acontecimentos tiveram uma influência considerável na dinâmica política libanesa, revelando as profundas divisões existentes no país e os desafios persistentes à estabilidade e à soberania do Líbano. O período pós-2005 tem sido marcado por tensões políticas constantes, crises económicas e desafios em matéria de segurança, reflectindo a complexidade da paisagem política e confessional do Líbano.
Jordânia[modifier | modifier le wikicode]
Mandato Britânico e Divisão Territorial (início do século XX - 1922)[modifier | modifier le wikicode]
Para compreender a formação da Jordânia, é essencial recuar ao período do Mandato Britânico sobre a Palestina, após a Primeira Guerra Mundial. Quando a Grã-Bretanha obteve o Mandato sobre a Palestina, na sequência da Conferência de San Remo, em 1920, viu-se a braços com um território complexo e cheio de conflitos. Um dos primeiros actos dos britânicos foi dividir o Mandato em duas zonas distintas na Conferência do Cairo, em 1922: a Palestina, por um lado, e os emirados da Transjordânia, por outro. Esta divisão reflectia simultaneamente considerações geopolíticas e o desejo de responder às aspirações das populações locais. Abdallah, um dos filhos do xerife Hussein de Meca, desempenhou um papel importante na região, nomeadamente ao liderar revoltas contra os otomanos. Para apaziguar e conter a sua influência, os britânicos decidiram nomeá-lo emir da Transjordânia. Esta decisão foi parcialmente motivada pelo desejo de estabilizar a região e de criar um aliado fiável para os britânicos.
A questão da imigração judaica para a Palestina foi uma das principais fontes de tensão durante este período. Os sionistas, que aspiravam à criação de um lar nacional judaico na Palestina, protestaram contra a política britânica de proibir a imigração judaica para a Transjordânia, considerando que tal restringia as possibilidades de colonização judaica numa parte do território do Mandato.
Independência e formação do Estado jordano (1946 - 1948)[modifier | modifier le wikicode]
O rio Jordão desempenhou um papel fundamental na distinção entre a Transjordânia (a leste do Jordão) e a Cisjordânia (a oeste do Jordão). Estes termos geográficos eram utilizados para descrever as regiões situadas em ambos os lados do rio Jordão. A formação da Jordânia como Estado independente foi um processo gradual. Em 1946, a Transjordânia tornou-se independente da Grã-Bretanha e Abdallah tornou-se o primeiro rei do Reino Hachemita da Jordânia. A Jordânia, tal como a Palestina, foi profundamente afetada pelos acontecimentos regionais, nomeadamente a criação do Estado de Israel em 1948 e os conflitos israelo-árabes que se lhe seguiram. Estes acontecimentos tiveram um impacto considerável na política e na sociedade jordanas nas décadas que se seguiram.
A Legião Árabe tem desempenhado um papel significativo na história da Jordânia e no conflito israelo-árabe. Fundada na década de 1920, no âmbito do Mandato Britânico, a Legião Árabe era uma força militar jordana que actuava sob a supervisão de conselheiros militares britânicos. Esta força foi crucial na manutenção da ordem no território da Transjordânia e serviu de base para o moderno exército jordano. No final do Mandato Britânico, em 1946, a Transjordânia, sob o reinado do Rei Abdullah, conquistou a sua independência, tornando-se o Reino Hachemita da Jordânia. A independência da Jordânia marcou um ponto de viragem na história do Médio Oriente, tornando o país um ator-chave na região.
Conflitos israelo-árabes e impacto na Jordânia (1948 - 1950)[modifier | modifier le wikicode]
Em 1948, a declaração de independência de Israel desencadeou a primeira guerra israelo-árabe. Os Estados árabes vizinhos, incluindo a Jordânia, recusaram-se a reconhecer a legitimidade de Israel e mobilizaram forças militares para se oporem ao Estado recém-formado. A Legião Árabe da Jordânia, considerada uma das forças armadas mais eficazes dos países árabes na altura, desempenhou um papel fundamental neste conflito. Durante a guerra de 1948, a Jordânia, sob o comando do rei Abdullah, ocupou a Cisjordânia, uma região a oeste do rio Jordão que fazia parte do mandato britânico sobre a Palestina. No final da guerra, a Jordânia anexou oficialmente a Cisjordânia, uma decisão que foi amplamente reconhecida no mundo árabe, mas não pela comunidade internacional. Esta anexação incluiu Jerusalém Oriental, que foi proclamada capital da Jordânia a par de Amã. A anexação da Cisjordânia pela Jordânia teve implicações importantes nas relações israelo-árabes e no conflito palestiniano. Também moldou a política interna da Jordânia, uma vez que a população palestiniana da Cisjordânia se tornou uma parte importante da sociedade jordana. Este período da história da Jordânia continuou a influenciar a política e as relações internacionais do país nas décadas seguintes.
O período que se seguiu à anexação da Cisjordânia pela Jordânia, em 1948, foi marcado por importantes desenvolvimentos políticos e sociais. Em 1950, a Jordânia anexou oficialmente a Cisjordânia, uma decisão que teve um impacto duradouro na composição demográfica e política do país. Na sequência desta anexação, metade dos lugares no parlamento jordano foram atribuídos a deputados palestinianos, reflectindo a nova realidade demográfica de uma Jordânia unificada, que incluía agora uma grande população palestiniana. Esta integração política dos palestinianos na Jordânia sublinhou a extensão da anexação da Cisjordânia e foi vista por alguns como um esforço para legitimar o controlo jordano sobre o território. No entanto, esta medida também aumentou as tensões, tanto no seio da população palestiniana como entre os nacionalistas palestinianos, que aspiravam à independência e à criação de um Estado palestiniano separado.
Os rumores de acordos secretos entre a Jordânia e Israel sobre questões de soberania e de território alimentaram o descontentamento dos nacionalistas palestinianos. Em 1951, o Rei Abdullah, que tinha sido um dos principais intervenientes na anexação da Cisjordânia e tinha procurado manter boas relações com os israelitas, foi assassinado em Jerusalém por um nacionalista palestiniano. Este assassinato veio sublinhar as profundas divisões e tensões políticas em torno da questão palestiniana. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi outro ponto de viragem importante para a Jordânia e para a região. Israel conquistou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e outros territórios durante este conflito, pondo fim ao controlo jordano sobre estas áreas. Esta perda teve um profundo impacto na Jordânia, tanto a nível político como demográfico, e exacerbou a questão palestiniana, que continua a ser uma questão central nos assuntos internos e na política externa da Jordânia. A guerra de 1967 também contribuiu para o aparecimento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como principal representante dos palestinianos e influenciou a trajetória do conflito israelo-árabe nos anos seguintes.
Reinado do Rei Hussein e desafios internos (1952 - 1999)[modifier | modifier le wikicode]
O Rei Hussein da Jordânia, neto do Rei Abdullah, governou o país de 1952 até à sua morte em 1999. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, incluindo a questão da população palestiniana na Jordânia e as ambições pan-árabes do Rei.
O Rei Hussein herdou uma situação complexa com uma grande população palestiniana na Jordânia, resultante da anexação da Cisjordânia em 1948 e do afluxo de refugiados palestinianos após a criação de Israel e a Guerra dos Seis Dias em 1967. A gestão da questão palestiniana continuou a ser um grande desafio durante todo o seu reinado, com crescentes tensões políticas e sociais internas. Um dos momentos mais críticos do seu reinado foi a crise do "setembro Negro", em 1970. Confrontado com a crescente força dos combatentes palestinianos da OLP na Jordânia, que ameaçava a soberania e a estabilidade do reino, o Rei Hussein ordenou uma intervenção militar brutal para recuperar o controlo dos campos de refugiados e das cidades onde a OLP tinha uma forte presença. Esta intervenção teve como resultado a expulsão da OLP e dos seus combatentes do território jordano, que passaram a estabelecer o seu quartel-general no Líbano.
Apesar da sua participação nas guerras israelo-árabes, nomeadamente na Guerra do Yom Kippur de 1973, o Rei Hussein manteve relações discretas mas significativas com Israel. Estas relações, muitas vezes em desacordo com as posições de outros Estados árabes, eram motivadas por considerações estratégicas e de segurança. A Jordânia e Israel partilhavam preocupações comuns, nomeadamente no que se refere à estabilidade regional e à questão palestiniana. O Rei Hussein acabou por desempenhar um papel fundamental nos esforços de paz no Médio Oriente. Em 1994, a Jordânia assinou um tratado de paz com Israel, tornando-se o segundo país árabe, depois do Egipto, a normalizar oficialmente as relações com Israel. O tratado constituiu um marco importante nas relações israelo-árabes e reflectiu o desejo do Rei Hussein de procurar uma solução pacífica para o conflito israelo-árabe, apesar dos desafios e das controvérsias que o mesmo implicava.
O Rei Abdullah II e a Jordânia moderna (1999 - Atualidade)[modifier | modifier le wikicode]
Quando o Rei Hussein da Jordânia morreu em 1999, o seu filho, Abdullah II, sucedeu-lhe no trono. A subida ao poder de Abdullah II marcou o início de uma nova era para a Jordânia, embora o novo rei tenha herdado muitos dos desafios políticos, económicos e sociais do seu pai. Abdullah II, educado no estrangeiro e com experiência militar, assumiu o comando de um país que enfrenta desafios internos complexos, incluindo a gestão das relações com a população palestiniana, o equilíbrio entre as pressões democráticas e a estabilidade do reino, bem como problemas económicos persistentes. A nível internacional, durante o seu reinado, a Jordânia continuou a desempenhar um papel importante nas questões regionais, incluindo o conflito israelo-árabe e as crises nos países vizinhos. O Rei Abdullah II prosseguiu os esforços do seu pai para modernizar o país e melhorar a economia. Procurou também promover a Jordânia como intermediário e mediador nos conflitos regionais, mantendo ao mesmo tempo relações estreitas com os países ocidentais, nomeadamente com os Estados Unidos.
A política externa de Abdullah II foi marcada por um equilíbrio entre a manutenção de relações sólidas com os países ocidentais e a navegação na complexa dinâmica do Médio Oriente. Durante o seu reinado, a Jordânia continuou a desempenhar um papel ativo nos esforços de paz no Médio Oriente e foi confrontada com o impacto das crises nos países vizinhos, nomeadamente no Iraque e na Síria. A nível interno, Abdullah II foi confrontado com apelos a uma maior reforma política e económica. As revoltas da primavera Árabe em 2011 também tiveram um impacto na Jordânia, embora o país tenha conseguido evitar a instabilidade em grande escala observada noutras partes da região. O Rei respondeu a alguns destes desafios com reformas políticas progressivas e esforços para melhorar a economia do país.
A trajetória histórica dos Hachemitas, que desempenharam um papel crucial nos acontecimentos do Médio Oriente no início do século XX, é marcada por promessas não cumpridas e por importantes ajustamentos políticos. A família Hashemita, originária da região de Hijaz, na Arábia, esteve no centro das ambições árabes de independência e unidade durante e após a Primeira Guerra Mundial. As suas aspirações a um grande Estado árabe unificado foram encorajadas e depois desiludidas pelas potências europeias, em especial pela Grã-Bretanha.
O rei Hussein bin Ali, patriarca dos hachemitas, aspirava à criação de um grande reino árabe que se estendesse por grande parte do Médio Oriente. No entanto, o Acordo de Sykes-Picot de 1916 e a Declaração de Balfour de 1917, bem como outros acontecimentos políticos, reduziram gradualmente estas aspirações. Por fim, os hachemitas passaram a governar apenas a Transjordânia (a atual Jordânia) e o Iraque, onde outro filho de Hussein, Faisal, se tornou rei. No que respeita à Palestina, a Jordânia, sob o comando do rei Hussein, esteve fortemente envolvida até aos Acordos de Oslo, na década de 1990. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e a perda da Cisjordânia pela Jordânia em favor de Israel, o rei Hussein continuou a reivindicar a soberania sobre o território palestiniano, apesar da falta de controlo efetivo.
No entanto, com os Acordos de Oslo, em 1993, que estabeleceram o reconhecimento mútuo entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e lançaram as bases para a autonomia palestiniana, a Jordânia foi obrigada a reavaliar a sua posição. Em 1988, o Rei Hussein já tinha renunciado oficialmente a todas as reivindicações jordanas sobre a Cisjordânia a favor da OLP, reconhecendo o direito do povo palestiniano à autodeterminação. Os Acordos de Oslo consolidaram esta realidade, confirmando a OLP como o representante legítimo do povo palestiniano e marginalizando ainda mais o papel da Jordânia nos assuntos palestinianos. Os Acordos de Oslo marcaram assim o fim das ambições jordanas em relação à Palestina, orientando o processo de paz para a negociação direta entre israelitas e palestinianos, com a Jordânia e outros actores regionais a desempenharem um papel de apoio e não de liderança.
A Jordânia e as relações internacionais: aliança estratégica com os Estados Unidos[modifier | modifier le wikicode]
A Jordânia, desde a sua criação como Estado independente em 1946, tem desempenhado um papel estratégico na política do Médio Oriente, equilibrando habilmente as relações internacionais, em particular com os Estados Unidos. Esta relação privilegiada com Washington tem sido essencial para a Jordânia, não só em termos de ajuda económica e militar, mas também como apoio diplomático numa região frequentemente marcada pela instabilidade e pelos conflitos. A ajuda económica e militar americana tem sido um pilar do desenvolvimento e da segurança da Jordânia. Os Estados Unidos têm prestado uma assistência substancial para reforçar as capacidades defensivas da Jordânia, apoiar o seu desenvolvimento económico e ajudá-la a gerir crises humanitárias, como o afluxo maciço de refugiados sírios e iraquianos. Esta ajuda tem permitido à Jordânia manter a sua estabilidade interna e desempenhar um papel ativo na promoção da paz e da segurança regionais. No domínio militar, a cooperação entre a Jordânia e os Estados Unidos tem sido estreita e frutuosa. Os exercícios militares conjuntos e os programas de formação reforçaram os laços entre os dois países e aumentaram a capacidade da Jordânia para contribuir para a segurança regional. Esta cooperação militar é também um elemento crucial para a Jordânia no contexto da luta contra o terrorismo e o extremismo. No plano diplomático, a Jordânia tem actuado frequentemente como intermediário nos conflitos regionais, um papel que corresponde aos interesses dos EUA na região. A Jordânia tem estado envolvida nos esforços de paz israelo-palestinianos e tem desempenhado um papel moderador nas crises da Síria e do Iraque. A posição geográfica da Jordânia, a sua relativa estabilidade e a sua relação com os Estados Unidos fazem dela um ator fundamental nos esforços de mediação e resolução de conflitos na região.
A relação entre a Jordânia e os Estados Unidos não é apenas uma aliança estratégica; reflecte também uma compreensão partilhada dos desafios que a região enfrenta. Os dois países partilham objectivos comuns na luta contra o terrorismo, na promoção da estabilidade regional e na procura de soluções diplomáticas para os conflitos. Esta relação é, portanto, essencial para a Jordânia, permitindo-lhe enfrentar os complexos desafios do Médio Oriente, beneficiando do apoio de uma grande potência mundial.
Iraque[modifier | modifier le wikicode]
Formação do Estado iraquiano (Pós-Primeira Guerra Mundial)[modifier | modifier le wikicode]
A formação do Iraque como um Estado moderno foi uma consequência direta da dissolução do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. O Iraque, tal como o conhecemos hoje, nasceu da fusão de três províncias históricas otomanas: Mossul, Bagdade e Bassorá. Esta fusão, orquestrada pelas potências coloniais, em particular a Grã-Bretanha, moldou não só as fronteiras do Iraque, mas também a sua complexa dinâmica interna.
A província de Mossul, no norte do atual Iraque, era uma região estratégica, nomeadamente devido às suas ricas reservas de petróleo. A composição étnica de Mossul, com uma presença curda significativa, acrescentou uma nova dimensão à complexidade política do Iraque. Após a guerra, o estatuto de Mossul foi objeto de um debate internacional, com os turcos e os britânicos a reivindicarem a região. No final, a Liga das Nações decidiu a favor do Iraque, integrando Mossul no novo Estado. O vilayet de Bagdade, no centro, era o coração histórico e cultural da região. Bagdade, uma cidade com uma história rica que remonta à era dos califados, continuou a desempenhar um papel central na vida política e cultural do Iraque. A diversidade étnica e religiosa da província de Bagdade tem sido um fator-chave na dinâmica política do Iraque moderno. Quanto à província de Bassorá, no sul, esta região, maioritariamente povoada por árabes xiitas, tem sido um importante centro comercial e portuário. As ligações de Bassorá com o Golfo Pérsico e o mundo árabe foram cruciais para a economia iraquiana e influenciaram as relações externas do Iraque.
A fusão destas três províncias distintas num único Estado, sob o mandato britânico, não foi isenta de dificuldades. A gestão das tensões étnicas, religiosas e tribais tem sido um desafio constante para os dirigentes iraquianos. A importância estratégica do Iraque foi reforçada pela descoberta de petróleo, atraindo a atenção das potências ocidentais e influenciando profundamente o desenvolvimento político e económico do país. As decisões tomadas durante e após o Mandato Britânico lançaram as bases para as complexidades políticas e sociais do Iraque, que continuaram a manifestar-se ao longo da sua história moderna, incluindo o reinado de Saddam Hussein e mais além. A formação do Iraque, uma mistura de diversas regiões e grupos, foi um fator-chave para os muitos desafios que o país enfrentou no século seguinte.
Influência britânica e interesses petrolíferos (início do século XX)[modifier | modifier le wikicode]
O fascínio da Grã-Bretanha pelo Iraque na primeira metade do século XX inscrevia-se num quadro mais vasto da política imperial britânica, em que a geoestratégia e os recursos naturais desempenhavam um papel preponderante. O Iraque, com o seu acesso direto ao Golfo Pérsico e a proximidade da Pérsia, rica em petróleo, tornou-se rapidamente um território de grande interesse para a Grã-Bretanha, que procurava alargar a sua influência no Médio Oriente. A importância estratégica do Iraque estava ligada à sua posição geográfica, que permitia o acesso ao Golfo Pérsico, uma via fluvial crucial para o comércio e as comunicações marítimas. Este controlo deu à Grã-Bretanha uma vantagem na garantia de rotas comerciais e marítimas vitais, especialmente em relação ao seu império colonial na Índia e noutras regiões. O petróleo, que se tornou um recurso estrategicamente vital no início do século XX, aumentou o interesse da Grã-Bretanha pelo Iraque e pela região circundante. A descoberta de petróleo na Pérsia (atual Irão) pela Anglo-Persian Oil Company (mais tarde British Petroleum, ou BP) realçou o potencial petrolífero da região. A Grã-Bretanha, ansiosa por assegurar o fornecimento de petróleo à sua marinha e indústria, considerou o Iraque um território fundamental para os seus interesses energéticos.
O Mandato Britânico no Iraque, estabelecido pela Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, deu à Grã-Bretanha um controlo considerável sobre a formação do Estado iraquiano. No entanto, este período foi marcado por tensões e resistências, como o demonstra a revolta iraquiana de 1920, uma reação significativa ao domínio britânico e às tentativas de implantação de estruturas administrativas e políticas estrangeiras. As acções britânicas no Iraque foram orientadas por uma combinação de objectivos imperiais e de necessidades práticas. À medida que o século XX avançava, o Iraque tornou-se uma questão cada vez mais complexa na política britânica, especialmente com a emergência do nacionalismo árabe e o aumento dos pedidos de independência. O papel da Grã-Bretanha no Iraque, e mais amplamente no Médio Oriente, tem sido, portanto, uma mistura de estratégia imperial, gestão de recursos naturais e resposta à dinâmica política em constante mudança da região.
Papel de Mossul e diversidade étnica (início do século XX)[modifier | modifier le wikicode]
A região de Mossul, no norte do Iraque, sempre teve uma importância crucial no contexto histórico e político do Médio Oriente. A sua importância deve-se a vários factores-chave que fizeram dela um território cobiçado ao longo dos séculos, em especial pela Grã-Bretanha durante a era colonial. A descoberta de petróleo na região de Mossul constituiu um importante ponto de viragem. No início do século XX, à medida que a importância do petróleo como recurso estratégico global se tornava cada vez mais evidente, Mossul emergiu como um território de imenso valor económico. As substanciais reservas de petróleo da região atraíram a atenção das potências imperiais, nomeadamente da Grã-Bretanha, que procurava assegurar fontes de petróleo para as suas necessidades industriais e militares. Esta riqueza em hidrocarbonetos não só estimulou o interesse internacional em Mossul, como também desempenhou um papel fundamental na definição da política e da economia iraquianas ao longo do século seguinte. Além disso, a posição geográfica de Mossul, perto das nascentes dos rios Tigre e Eufrates, confere-lhe uma importância estratégica especial. O controlo das fontes de água nesta região árida é vital para a agricultura, a economia e a vida quotidiana. Esta importância geográfica fez de Mossul um tema das relações internacionais e da dinâmica regional, nomeadamente no contexto das tensões sobre a distribuição da água na região. O controlo de Mossul foi também considerado essencial para a estabilidade do Iraque no seu conjunto. Devido à sua diversidade étnica e cultural, com uma população composta por curdos, árabes, turcomanos, assírios e outros grupos, a região tem sido uma importante encruzilhada cultural e política. A gestão desta diversidade e a integração de Mossul no Estado iraquiano têm sido desafios constantes para os sucessivos governos iraquianos. A manutenção da estabilidade na região norte foi crucial para a coesão e unidade nacionais do Iraque.
Contribuição de Gertrude Bell e as fundações do Iraque moderno (início do século XX)[modifier | modifier le wikicode]
A contribuição de Gertrude Bell para a formação do Iraque moderno é um exemplo eloquente da influência ocidental na redefinição das fronteiras e das identidades nacionais no Médio Oriente no início do século XX. Bell, arqueóloga britânica e administradora colonial, desempenhou um papel crucial na criação do Estado iraquiano, nomeadamente ao defender a utilização do termo "Iraque", um nome de origem árabe, em vez de "Mesopotâmia", de origem grega. Esta escolha simbolizava o reconhecimento da identidade árabe da região, em oposição a uma designação imposta por potências estrangeiras. No entanto, como salientou Pierre-Jean Luisard na sua análise da questão iraquiana, os fundamentos do Iraque moderno foram também o berço de problemas futuros. A estrutura do Iraque, concebida e implementada pelas potências coloniais, reuniu diversos grupos étnicos e religiosos num único Estado, criando um terreno fértil para tensões e conflitos persistentes. O domínio dos sunitas, frequentemente em minoria, sobre os xiitas, maioritários, deu origem a tensões e conflitos sectários, exacerbados por políticas discriminatórias e diferenças ideológicas. Além disso, a marginalização dos curdos, um grande grupo étnico do norte do Iraque, alimentou os pedidos de autonomia e de reconhecimento, frequentemente reprimidos pelo governo central.
Estas tensões internas foram agravadas durante o regime de Saddam Hussein, que governou o Iraque com mão-de-ferro, exacerbando as divisões sectárias e étnicas. A guerra Irão-Iraque (1980-1988), a campanha Anfal contra os curdos e a invasão do Kuwait em 1990 são exemplos de como as políticas internas e externas do Iraque foram influenciadas por estas dinâmicas de poder. A invasão do Iraque em 2003 por uma coligação liderada pelos Estados Unidos e a queda de Saddam Hussein deram início a um novo período de conflito e instabilidade, revelando a fragilidade das fundações sobre as quais o Estado iraquiano tinha sido construído. Os anos que se seguiram foram marcados pelo aumento da violência sectária, por lutas internas pelo poder e pelo aparecimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico, que aproveitaram o vazio político e a desintegração da ordem estatal. A história do Iraque é a de um Estado moldado por influências estrangeiras e que enfrenta desafios internos complexos. A contribuição de Gertrude Bell, embora significativa para a formação do Iraque, insere-se num contexto mais vasto de construção da nação e de conflito que continuou a moldar o país muito para além da sua fundação.
"Dividir para reinar" e dominação sunita (início do século XX)[modifier | modifier le wikicode]
A abordagem colonial britânica à criação e gestão do Iraque é um exemplo clássico da estratégia "dividir para reinar", que teve um efeito profundo na estrutura política e social do Iraque. De acordo com esta abordagem, as potências coloniais favorecem frequentemente uma minoria no seio da sociedade, a fim de a manter no poder, assegurando assim a sua dependência e lealdade para com a metrópole, ao mesmo tempo que enfraquecem a unidade nacional. No caso do Iraque, os britânicos instalaram no poder a minoria sunita, apesar de os xiitas constituírem a maioria da população. Em 1920, Faisal I, um membro da família real hachemita, foi instalado como governante do recém-formado Iraque. Faisal, apesar de ter raízes na Península Arábica, foi escolhido pelos britânicos pela sua legitimidade pan-árabe e pela sua presumível capacidade de unificar os vários grupos étnicos e religiosos sob o seu domínio. No entanto, esta decisão exacerbou as tensões sectárias e étnicas no país. Os xiitas e os curdos, sentindo-se marginalizados e excluídos do poder político, não tardaram a manifestar o seu descontentamento. Já em 1925, eclodiram revoltas xiitas e curdas em resposta a esta marginalização e às políticas aplicadas pelo governo dominado pelos sunitas. Estes protestos foram violentamente reprimidos, por vezes com a ajuda da Força Aérea Real Britânica, com o objetivo de estabilizar o Estado e manter o controlo colonial. O uso da força para reprimir as revoltas xiitas e curdas lançou as bases para a instabilidade permanente no Iraque. O domínio sunita apoiado pelos britânicos gerou um ressentimento duradouro entre as populações xiitas e curdas, contribuindo para os ciclos de rebelião e repressão que marcaram a história do Iraque ao longo do século XX. Esta dinâmica também alimentou o sentimento nacionalista entre os xiitas e os curdos, reforçando as suas aspirações a uma maior autonomia e mesmo à independência, nomeadamente na região curda do Norte do Iraque.
Independência e continuação da influência britânica (1932)[modifier | modifier le wikicode]
A independência do Iraque em 1932 representou um momento crucial na história do Médio Oriente, sublinhando a complexidade da descolonização e a continuação da influência das potências coloniais. O Iraque tornou-se o primeiro Estado, criado de raiz por um mandato da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, a alcançar formalmente a independência. Este acontecimento marcou uma etapa importante na evolução do Iraque, que passou de um protetorado britânico para um Estado soberano. A adesão do Iraque à Liga das Nações, em 1932, foi saudada como um sinal do seu estatuto de nação independente e soberana. No entanto, na prática, esta independência foi prejudicada pela manutenção de uma considerável influência britânica sobre os assuntos internos do Iraque. Embora o Iraque tenha adquirido formalmente a soberania, os britânicos continuaram a exercer um controlo indireto sobre o país.
Este controlo manifestou-se, em particular, na administração do governo iraquiano, onde cada ministro iraquiano tinha um assistente britânico. Estes assistentes, frequentemente administradores experientes, tinham um papel consultivo, mas a sua presença simbolizava também o controlo britânico sobre a política iraquiana. Esta situação criou um ambiente em que a soberania iraquiana era, em parte, prejudicada pela influência e pelos interesses britânicos. Este período da história do Iraque foi também marcado por tensões internas e desafios políticos. O Governo iraquiano, embora soberano, teve de navegar num cenário complexo de divisões étnicas e religiosas, gerindo simultaneamente as expectativas e as pressões das antigas potências coloniais. Estas dinâmicas contribuíram para períodos de instabilidade e de conflitos internos, reflectindo as dificuldades inerentes à transição do Iraque de um mandato para uma nação independente. A independência do Iraque em 1932, embora constitua um marco importante, não pôs termo à influência estrangeira no país. Pelo contrário, marcou o início de uma nova fase de relações internacionais e de desafios internos para o Iraque, moldando o seu desenvolvimento político e social nas décadas seguintes.
Golpe de 1941 e Intervenção Britânica (1941)[modifier | modifier le wikicode]
Em 1941, o Iraque foi palco de um acontecimento crítico que ilustrou a fragilidade da sua independência e a persistência da influência britânica no país. Foi o ano do golpe de Estado liderado por Rashid Ali al-Gaylani, que desencadeou uma série de acontecimentos que culminaram na intervenção militar britânica. Rashid Ali, que tinha sido anteriormente Primeiro-Ministro, liderou um golpe de Estado contra o governo pró-britânico em funções. O golpe foi motivado por uma série de factores, incluindo o nacionalismo árabe, a oposição à presença e influência britânicas no Iraque e os crescentes sentimentos anticoloniais entre certas facções da elite política e militar iraquiana.
A tomada do poder por Rashid Ali foi vista como uma ameaça direta à Grã-Bretanha, nomeadamente devido à posição estratégica do Iraque durante a Segunda Guerra Mundial. O Iraque, com o seu acesso ao petróleo e a sua posição geográfica, era crucial para os interesses britânicos na região, nomeadamente no contexto da guerra contra as potências do Eixo. Em resposta ao golpe de Estado, a Grã-Bretanha interveio rapidamente a nível militar. Receando que o Iraque caísse sob a influência do Eixo ou perturbasse as rotas petrolíferas e de abastecimento, as forças britânicas lançaram uma campanha para derrubar Rashid Ali e restaurar um governo favorável aos britânicos. A operação foi rápida e decisiva, pondo fim ao breve reinado de Rashid Ali. Na sequência desta intervenção, a Grã-Bretanha colocou um novo rei no poder, reafirmando a sua influência na política iraquiana. Este período sublinhou a vulnerabilidade do Iraque à intervenção estrangeira e pôs em evidência os limites da sua independência soberana. A intervenção britânica de 1941 também teve um impacto duradouro na política iraquiana, alimentando um sentimento anti-britânico e anti-colonial que continuou a influenciar os futuros acontecimentos políticos no país.
O Iraque durante a Guerra Fria e o Pacto de Bagdade (1955)[modifier | modifier le wikicode]
A história do Iraque durante a Guerra Fria é um exemplo de como os interesses geopolíticos das superpotências continuaram a influenciar e a moldar a política interna e externa dos países da região. Durante este período, o Iraque tornou-se um ator fundamental nas estratégias de contenção adoptadas pelos Estados Unidos contra a União Soviética.
Em 1955, o Iraque desempenhou um papel importante na formação do Pacto de Bagdade, uma aliança militar e política iniciada pelos Estados Unidos. Este pacto, também conhecido como Pacto do Médio Oriente, visava estabelecer um cordão de segurança na região para contrariar a influência e a expansão da União Soviética. Para além do Iraque, o pacto incluía a Turquia, o Irão, o Paquistão e o Reino Unido, formando uma frente unida contra o comunismo numa região estrategicamente importante. O Pacto de Bagdade estava em conformidade com a política de "contenção" dos Estados Unidos, que procurava limitar a expansão soviética em todo o mundo. Esta política foi motivada pela perceção de uma ameaça soviética crescente e pelo desejo de impedir a propagação do comunismo, em especial em áreas estratégicas como o Médio Oriente, rico em petróleo.
No entanto, o envolvimento do Iraque no Pacto de Bagdade teve implicações internas. Esta aliança com as potências ocidentais foi objeto de controvérsia entre a população iraquiana e exacerbou as tensões políticas internas. O pacto foi visto por muitos como uma continuação da interferência estrangeira nos assuntos iraquianos e alimentou o sentimento nacionalista e anti-ocidental de certas facções. Em 1958, o Iraque foi objeto de um golpe de Estado que derrubou a monarquia e instaurou a República do Iraque. O golpe foi motivado, em grande medida, por sentimentos anti-ocidentais e pela oposição à política externa pró-ocidental da monarquia. Após o golpe, o Iraque retirou-se do Pacto de Bagdade, marcando uma mudança significativa na sua política externa e sublinhando a complexidade da sua posição geopolítica durante a Guerra Fria.
Revolução de 1958 e ascensão do Baathismo (1958)[modifier | modifier le wikicode]
A revolução de 1958 no Iraque foi um ponto de viragem decisivo na história moderna do país, marcando o fim da monarquia e a instauração da República. Este período de profundas mudanças políticas e sociais no Iraque coincidiu com importantes desenvolvimentos políticos noutras partes do mundo árabe, nomeadamente a formação da República Árabe Unida (RUA) pelo Egipto e pela Síria. Abdel Karim Kassem, um oficial do exército iraquiano, desempenhou um papel fundamental no golpe de Estado de 1958 que derrubou a monarquia hachemita no Iraque. Após a revolução, Kassem tornou-se o primeiro Primeiro-Ministro da República do Iraque. A sua tomada de poder foi recebida com um apoio popular generalizado, uma vez que muitos o viam como um líder capaz de conduzir o Iraque a uma era de reformas e de maior independência da influência estrangeira. Entretanto, em 1958, o Egipto e a Síria fundiram-se para formar a República Árabe Unida, um esforço de unificação pan-árabe liderado pelo Presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. A RUA representou uma tentativa de unidade política entre as nações árabes, baseada no nacionalismo árabe e no anti-imperialismo. No entanto, Abdel Karim Kassem optou por não aderir à UAR. Ele tinha as suas próprias visões para o Iraque, que diferiam do modelo de Nasser.
Kassem concentrou-se na consolidação do poder no Iraque e procurou reforçar o seu apoio interno, aproximando-se de grupos que eram frequentemente marginalizados na sociedade iraquiana, nomeadamente os curdos e os xiitas. Durante o seu regime, o Iraque passou por um período de reformas sociais e económicas. Kassem adoptou, nomeadamente, reformas agrárias e trabalhou no sentido de modernizar a economia iraquiana. No entanto, o seu governo foi também marcado por tensões e conflitos políticos. A política de Kassem em relação aos curdos e aos xiitas, apesar de ter como objetivo a inclusão, também deu origem a tensões com outros grupos e potências regionais. Além disso, o seu regime enfrentou desafios de estabilidade e oposição interna, incluindo tentativas de golpe de Estado e conflitos com facções políticas rivais.
O período pós-revolucionário no Iraque, no início da década de 1960, foi marcado por mudanças políticas rápidas e frequentemente violentas, com a emergência do Baathismo como força política significativa. Abdel Karim Kassem, que governava o Iraque desde a revolução de 1958, foi derrubado e morto num golpe de Estado em 1963. O golpe foi orquestrado por um grupo de nacionalistas árabes e membros do Partido Baath, uma organização política socialista pan-árabe. O Partido Baath, fundado na Síria, tinha ganho influência em vários países árabes, incluindo o Iraque, e defendia a unidade árabe, o socialismo e o secularismo. Abdel Salam Aref, que substituiu Kassem à frente do Iraque, era membro do partido Baath e tinha opiniões políticas diferentes das do seu antecessor. Ao contrário de Kassem, Aref era favorável à ideia de uma República Árabe Unida e apoiava o conceito de unidade pan-árabe. A sua subida ao poder marcou uma mudança significativa na política iraquiana, com a adoção de políticas mais alinhadas com os ideais baasistas.
A morte de Abdel Salam Aref num acidente de helicóptero, em 1966, deu origem a uma nova transição de poder. O seu irmão, Abdul Rahman Aref, sucedeu-lhe como Presidente. O período de governação dos irmãos Aref foi a altura em que o Baathismo começou a ganhar terreno no Iraque, embora o seu regime também tenha sido marcado pela instabilidade e por lutas internas pelo poder. O baathismo iraquiano, apesar de ter origens comuns com o baathismo sírio, desenvolveu as suas próprias características e dinâmicas. Os governos de Abdel Salam Aref e Abdul Rahman Aref enfrentaram vários desafios, nomeadamente tensões internas no seio do Partido Baath e a oposição de diferentes grupos sociais e políticos. Estas tensões acabaram por conduzir a um novo golpe de Estado em 1968, liderado pelo sector iraquiano do Partido Baath, que viu ascender às fileiras da liderança iraquiana figuras como Saddam Hussein.
O reinado de Saddam Hussein e a Guerra Irão-Iraque (1979 - 1988)[modifier | modifier le wikicode]
A ascensão de Saddam Hussein ao poder em 1979 marcou uma nova era na história política e social do Iraque. Enquanto figura dominante do Partido Ba'ath, Saddam Hussein empreendeu uma série de reformas e políticas destinadas a reforçar o controlo do Estado e a modernizar a sociedade iraquiana, consolidando simultaneamente o seu próprio poder. Um dos aspectos fundamentais da governação de Saddam Hussein foi o processo de criação do Estado tribal, uma estratégia destinada a integrar as estruturas tribais tradicionais no aparelho de Estado. O objetivo desta abordagem era conquistar o apoio das tribos, em particular dos Tiplit, envolvendo-os nas estruturas governamentais e concedendo-lhes determinados privilégios. Em contrapartida, estas tribos deram um apoio crucial a Saddam Hussein, reforçando assim o seu regime.
Paralelamente a esta política tribal, Saddam Hussein lançou ambiciosos programas de modernização em vários sectores, como a educação, a economia e a habitação. Estes programas tinham por objetivo transformar o Iraque numa nação moderna e desenvolvida. Um elemento importante desta modernização foi a nacionalização da indústria petrolífera iraquiana, que permitiu ao governo controlar um recurso vital e financiar as suas iniciativas de desenvolvimento. No entanto, apesar destes esforços de modernização, a economia iraquiana durante o regime de Saddam Hussein baseava-se, em grande medida, num sistema clientelista. Este sistema clientelista implicava a distribuição de favores, recursos e cargos públicos a indivíduos e grupos em troca do seu apoio político. Esta abordagem criou uma dependência do regime e contribuiu para a manutenção de uma rede de lealdade a Saddam Hussein. Embora as iniciativas de Saddam Hussein tenham conduzido a certos desenvolvimentos económicos e sociais, foram também acompanhadas de repressão política e de violações dos direitos humanos. A consolidação do poder de Saddam Hussein foi frequentemente efectuada à custa da liberdade política e da oposição, o que deu origem a tensões e conflitos internos.
A guerra Irão-Iraque, que começou em 1980 e se prolongou até 1988, é um dos conflitos mais sangrentos e destrutivos do século XX. Iniciada por Saddam Hussein, a guerra teve consequências de grande alcance tanto para o Iraque como para o Irão, bem como para toda a região. Saddam Hussein, procurando explorar a aparente vulnerabilidade do Irão na sequência da Revolução Islâmica de 1979, lançou uma ofensiva contra este país. Receava que a revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini se espalhasse pelo Iraque, especialmente entre a maioria xiita do país, e desestabilizasse o seu regime baathista, predominantemente sunita. Além disso, Saddam Hussein pretendia estabelecer o domínio regional do Iraque e o controlo dos territórios ricos em petróleo, nomeadamente na região fronteiriça do Shatt al-Arab. A guerra transformou-se rapidamente num conflito prolongado e dispendioso, caracterizado por combates em trincheiras, ataques químicos e um enorme sofrimento humano. Mais de meio milhão de soldados foram mortos de ambos os lados e milhões de pessoas foram afectadas pela destruição e pelas deslocações.
A nível regional, a guerra deu origem a alianças complexas. A Síria, liderada por Hafez al-Assad, optou por apoiar o Irão, apesar das diferenças ideológicas, em parte devido à rivalidade sírio-iraquiana. O Irão também recebeu apoio do Hezbollah, uma organização militante xiita sediada no Líbano. Estas alianças reflectiam as crescentes divisões políticas e sectárias na região. A guerra terminou finalmente em 1988, sem que houvesse um vencedor claro. O cessar-fogo, negociado sob os auspícios das Nações Unidas, deixou as fronteiras praticamente inalteradas e não foram efectuadas quaisquer reparações significativas. O conflito deixou ambos os países gravemente enfraquecidos e endividados e lançou as bases para futuros conflitos na região, incluindo a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 e as subsequentes intervenções dos Estados Unidos e dos seus aliados na região.
O fim da guerra Irão-Iraque em 1988 foi um momento crucial, marcando o fim de oito anos de conflito amargo e de considerável sofrimento humano. O Irão, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, aceitou finalmente a Resolução 598 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apelava a um cessar-fogo imediato e ao fim das hostilidades entre os dois países. A decisão do Irão de aceitar o cessar-fogo foi tomada num contexto de dificuldades crescentes na frente interna e de uma situação militar cada vez mais desfavorável. Apesar dos esforços iniciais para resistir à agressão iraquiana e obter ganhos territoriais, o Irão tem estado sujeito a uma enorme pressão económica e militar, exacerbada pelo isolamento internacional e pelos custos humanos e materiais do prolongado conflito.
Um elemento particularmente perturbador da guerra foi a utilização de armas químicas pelo Iraque, uma tática que marcou uma escalada dramática na violência do conflito. As forças iraquianas utilizaram armas químicas em várias ocasiões contra as forças iranianas e mesmo contra a sua própria população curda, como no infame massacre de Halabja, em 1988, em que milhares de civis curdos foram mortos por gás venenoso. A utilização de armas químicas pelo Iraque foi amplamente condenada a nível internacional e contribuiu para o isolamento diplomático do regime de Saddam Hussein. O cessar-fogo de 1988 pôs fim a um dos conflitos mais sangrentos da segunda metade do século XX, mas deixou para trás países devastados e uma região profundamente marcada pelas consequências da guerra. Nem o Irão nem o Iraque conseguiram atingir os ambiciosos objectivos que se tinham proposto no início do conflito e a guerra acabou por se caraterizar pela sua trágica futilidade e pelos enormes custos humanos.
Invasão do Kuwait e Guerra do Golfo (1990 - 1991)[modifier | modifier le wikicode]
A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, sob o comando de Saddam Hussein, desencadeou uma série de acontecimentos importantes na cena internacional, que conduziram à Guerra do Golfo de 1991. A invasão foi motivada por uma série de factores, incluindo reivindicações territoriais, disputas sobre a produção de petróleo e tensões económicas. Saddam Hussein justificou a invasão alegando que, historicamente, o Kuwait fazia parte do Iraque. Também se queixou da produção de petróleo do Kuwait, que acusou de exceder as quotas da OPEP, contribuindo assim para a queda dos preços do petróleo e afectando a economia iraquiana, já enfraquecida pela longa guerra com o Irão. A reação internacional à invasão foi rápida e firme. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou a invasão e impôs um embargo económico rigoroso ao Iraque. Posteriormente, foi formada uma coligação de forças internacionais, liderada pelos Estados Unidos, para libertar o Kuwait. Embora a operação tenha sido sancionada pela ONU, foi amplamente considerada como sendo dominada pelos EUA, devido ao seu papel de liderança e à sua contribuição militar significativa.
A Guerra do Golfo, que teve início em janeiro de 1991, foi breve mas intensa. A campanha aérea maciça e a subsequente operação terrestre expulsaram rapidamente as forças iraquianas do Kuwait. No entanto, o embargo imposto ao Iraque teve consequências devastadoras para a população civil iraquiana. As sanções económicas, combinadas com a destruição das infra-estruturas durante a guerra, conduziram a uma grave crise humanitária no Iraque, com escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. A invasão do Kuwait pelo Iraque e a subsequente Guerra do Golfo tiveram um grande impacto na região e nas relações internacionais. O Iraque viu-se isolado na cena internacional e Saddam Hussein viu-se confrontado com desafios crescentes a nível interno e externo. Este período marcou também um ponto de viragem na política dos EUA no Médio Oriente, reforçando a sua presença militar e política na região.
Impacto do Ataque de 11 de setembro e da Invasão dos EUA (2003)[modifier | modifier le wikicode]
O período pós-11 de setembro marcou um ponto de viragem significativo na política externa dos EUA, particularmente no que diz respeito ao Iraque. Sob a direção do Presidente George W. Bush, o Iraque passou a ser cada vez mais visto como parte do que Bush descreveu como o "Eixo do Mal", uma expressão que alimentou a imaginação pública e política americana no contexto da luta contra o terrorismo internacional. Embora o Iraque não estivesse diretamente envolvido nos atentados de 11 de setembro, a administração Bush avançou com a teoria de que o Iraque de Saddam Hussein possuía armas de destruição maciça (ADM) e representava uma ameaça à segurança global. Esta perceção foi utilizada para justificar a invasão do Iraque em 2003, uma decisão que foi amplamente controversa, especialmente depois de se ter revelado que o Iraque não possuía armas de destruição maciça.
A invasão e a subsequente ocupação do Iraque pelas forças lideradas pelos EUA resultaram no derrube de Saddam Hussein, mas também tiveram consequências imprevistas e instabilidade a longo prazo. Uma das políticas mais criticadas da administração americana no Iraque foi a "desbaathificação", que tinha por objetivo erradicar a influência do partido Baath de Saddam Hussein. Esta política incluía a dissolução do exército iraquiano e o desmantelamento de muitas estruturas administrativas e governamentais. No entanto, a desbaathificação criou um vazio de poder e exacerbou as tensões sectárias e étnicas no Iraque. Muitos antigos membros do exército e do partido Ba'ath, subitamente privados dos seus empregos e do seu estatuto, viram-se marginalizados e, nalguns casos, aderiram a grupos insurrectos. Esta situação contribuiu para o aparecimento e a ascensão ao poder de grupos jihadistas como a Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde se transformou no Estado Islâmico no Iraque e no Levante (EIIL), conhecido como Daesh. O caos e a instabilidade que se seguiram à invasão dos EUA foram factores essenciais para a ascensão do novo jihadismo representado pelo Daesh, que explorou o vazio político, as tensões sectárias e a insegurança para alargar a sua influência. A intervenção dos EUA no Iraque, embora inicialmente apresentada como um esforço para trazer democracia e estabilidade, teve consequências profundas e duradouras, mergulhando o país num período de conflito, violência e instabilidade que persiste há muitos anos.
A retirada das tropas americanas do Iraque em 2009 marcou uma nova fase na história política do país, caracterizada pela ascensão de grupos xiitas e por mudanças na dinâmica do poder. Depois de décadas de marginalização sob o regime baathista, dominado pelos sunitas, a maioria xiita do Iraque ganhou influência política após a queda de Saddam Hussein e o processo de reconstrução política que se seguiu à invasão dos EUA em 2003. Com a criação de um governo mais representativo e a organização de eleições democráticas, os partidos políticos xiitas, que tinham sido reprimidos durante o regime de Saddam Hussein, adquiriram um papel proeminente na nova paisagem política iraquiana. As figuras políticas xiitas, frequentemente apoiadas pelo Irão, começaram a ocupar posições-chave no governo, reflectindo a evolução demográfica e política do país.
No entanto, esta mudança de poder também deu origem a tensões e conflitos. As comunidades sunitas e curdas, que tinham ocupado posições de poder durante o regime de Saddam Hussein ou que tinham procurado obter autonomia, como no caso do Curdistão iraquiano, viram-se marginalizadas na nova ordem política. Esta marginalização, associada ao desmantelamento do exército iraquiano e a outras políticas aplicadas após a invasão, criou um sentimento de alienação e de frustração entre estes grupos. A marginalização dos sunitas, em particular, contribuiu para um clima de insegurança e descontentamento, criando um terreno fértil para a insurreição e o terrorismo. Grupos como a Al-Qaeda no Iraque e, mais tarde, o Estado Islâmico (Daesh), aproveitaram estas divisões para recrutar membros e alargar a sua influência, conduzindo a um período de intensa violência e conflito sectário.
Israel[modifier | modifier le wikicode]
Os primórdios do sionismo e a Declaração de Balfour[modifier | modifier le wikicode]
A criação do Estado de Israel em 1948 é um acontecimento histórico de grande importância que tem sido interpretado de diferentes formas, reflectindo as complexidades e tensões inerentes a este período da história. Por um lado, pode ser visto como o culminar de esforços diplomáticos e políticos, marcado por decisões fundamentais a nível internacional. Por outro lado, é visto como o culminar de uma luta nacional, impulsionada pelo movimento sionista e pelas aspirações de autodeterminação do povo judeu.
A Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico apoiava o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, lançou as bases para a criação de Israel. Embora esta declaração fosse mais uma promessa do que um compromisso juridicamente vinculativo, foi um momento fundamental para o reconhecimento internacional das aspirações sionistas. O Mandato Britânico para a Palestina, estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, serviu então de quadro administrativo para a região, embora as tensões entre as comunidades judaica e árabe tenham aumentado durante este período. O plano de partilha da Palestina proposto pela ONU em 1947, que previa a criação de dois Estados independentes, judeu e árabe, com Jerusalém sob controlo internacional, foi outro momento decisivo. Embora este plano tenha sido aceite pelos líderes judeus, foi rejeitado pelos partidos árabes, o que levou a um conflito aberto após a retirada britânica da região.
A Guerra da Independência de Israel, que se seguiu à proclamação do Estado de Israel em maio de 1948 por David Ben-Gurion, o primeiro Primeiro-Ministro de Israel, foi marcada por combates ferozes contra os exércitos de vários países árabes vizinhos. Esta guerra foi uma luta pela existência e soberania para os israelitas e um momento trágico de perda e deslocação para os palestinianos, um acontecimento conhecido como a Nakba (a catástrofe). A fundação de Israel foi, por isso, recebida com júbilo por muitos judeus em todo o mundo, especialmente no contexto da perseguição durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Para os palestinianos e muitos outros no mundo árabe, porém, 1948 foi sinónimo de perda e o início de um longo conflito. A criação de Israel foi, por conseguinte, um acontecimento crucial, não só para os povos da região, mas também no contexto mais vasto das relações internacionais, influenciando profundamente a política do Médio Oriente nas décadas que se seguiram.
A Declaração Balfour, redigida em 2 de novembro de 1917, é um documento crucial para compreender as origens do Estado de Israel e o conflito israelo-palestiniano. Redigida por Arthur James Balfour, na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, a Declaração foi enviada a Lord Rothschild, um líder da comunidade judaica britânica, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha e da Irlanda. O texto da Declaração de Balfour garantia o apoio do governo britânico ao estabelecimento na Palestina de um "lar nacional para o povo judeu", estipulando simultaneamente que tal não deveria prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes no país, nem os direitos e o estatuto político de que gozavam os judeus em qualquer outro país. No entanto, as populações não judias da Palestina não foram explicitamente mencionadas no documento, o que foi interpretado como uma omissão significativa. As razões subjacentes à Declaração Balfour foram múltiplas e complexas, envolvendo considerações diplomáticas e estratégicas britânicas durante a Primeira Guerra Mundial. Estas incluíam o desejo de ganhar o apoio dos judeus para os esforços de guerra dos Aliados, particularmente na Rússia, onde a Revolução Bolchevique tinha criado incertezas, e o interesse estratégico na Palestina como região-chave perto do Canal do Suez, vital para o Império Britânico. A Declaração Balfour marcou um ponto de viragem na história da região, uma vez que foi interpretada pelos sionistas como um apoio internacional à sua aspiração a um lar nacional na Palestina. Para os palestinianos árabes, por outro lado, foi vista como uma traição e uma ameaça às suas reivindicações territoriais e nacionais. Esta dicotomia de percepções lançou as bases para as tensões e os conflitos que se seguiram na região.
O contexto histórico do conflito israelo-palestiniano é complexo e é muito anterior à Declaração Balfour de 1917. A presença judaica em Jerusalém e noutras partes da Palestina histórica remonta a milénios, embora a demografia e a composição da população tenham flutuado ao longo do tempo em resultado de vários acontecimentos históricos, incluindo períodos de exílio e diáspora. Durante o século XIX e, em especial, na década de 1830, iniciou-se uma migração significativa de judeus para a Palestina, em parte como resposta às perseguições e aos pogroms no Império Russo e noutras partes da Europa. Esta migração, frequentemente considerada como parte das primeiras Aliyahs (ascensões) do nascente movimento sionista, foi motivada pelo desejo de regressar à pátria ancestral judaica e de reconstruir uma presença judaica na Palestina.
Um aspeto importante deste renascimento judaico foi a Askala ou Haskala (Renascença Judaica), um movimento entre os judeus europeus, particularmente os Ashkenazim, para modernizar a cultura judaica e integrar-se na sociedade europeia. Este movimento incentivou a educação, a adoção de línguas e costumes locais, promovendo simultaneamente uma identidade judaica renovada e dinâmica. Eliezer Ben-Yehuda, frequentemente citado como o pai do hebraico moderno, desempenhou um papel crucial no renascimento do hebraico como língua viva. O seu trabalho foi essencial para a renovação cultural e nacional judaica, dando à comunidade judaica na Palestina um meio de comunicação unificador e reforçando a sua identidade cultural distinta.
Estes desenvolvimentos culturais e migratórios ajudaram a lançar as bases do sionismo político, um movimento nacionalista que visava estabelecer um lar nacional judeu na Palestina. O sionismo ganhou popularidade no final do século XIX, em parte como resposta à perseguição antissemita na Europa e à aspiração à autodeterminação. A migração judaica para a Palestina no século XIX e no início do século XX coincidiu com a presença de longa data de comunidades árabes palestinianas, o que levou a alterações demográficas e a tensões crescentes na região. Estas tensões, exacerbadas pelas políticas do Mandato Britânico e pelos acontecimentos internacionais, acabaram por conduzir ao conflito israelo-palestiniano que hoje conhecemos.
A história do movimento sionista e a emergência da ideia de um lar nacional judaico estão intimamente ligadas à diáspora judaica na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Este período foi marcado por uma renovação do pensamento judaico e uma consciência crescente dos desafios que a comunidade judaica enfrentava na Europa, nomeadamente o antissemitismo. Leon Pinsker, um médico e intelectual judeu russo, foi uma figura-chave nas primeiras fases do sionismo. Influenciado pelos pogroms e pela perseguição antissemita na Rússia, Pinsker escreveu "Self-Emancipation" (Auto-Emancipação) em 1882, um panfleto que defendia a necessidade de uma pátria nacional para os judeus. Pinsker acreditava que o antissemitismo era um fenómeno permanente e inevitável na Europa e que a única solução para o povo judeu era a autonomia no seu próprio território. Theodore Herzl, um jornalista e escritor austro-húngaro, é frequentemente considerado o pai do sionismo político moderno. Profundamente afetado pelo Caso Dreyfus em França, em que um oficial judeu, Alfred Dreyfus, foi falsamente acusado de espionagem num clima de antissemitismo flagrante, Herzl chegou à conclusão de que a assimilação não protegeria os judeus da discriminação e da perseguição. Este caso foi um catalisador para Herzl, levando-o a escrever "O Estado dos Judeus" em 1896, no qual defendia a criação de um Estado judeu. Contrariamente à crença popular, Herzl não previa especificamente a fundação do lar nacional judaico em França, mas sim na Palestina ou, na sua falta, num outro território oferecido por uma potência colonial. A ideia de Herzl era encontrar um lugar onde os judeus pudessem estabelecer-se como uma nação soberana e viver livremente, longe do antissemitismo europeu. Herzl foi a força motriz do Primeiro Congresso Sionista, realizado em Basileia em 1897, que lançou as bases do movimento sionista enquanto organização política. Este congresso reuniu delegados judeus de diversas origens para discutir a criação de um lar nacional judeu na Palestina.
Antissemitismo e migração judaica[modifier | modifier le wikicode]
O antissemitismo tem uma história longa e complexa, profundamente enraizada nas crenças religiosas e socioeconómicas europeias, sobretudo durante a Idade Média. Um dos aspectos mais proeminentes do antissemitismo histórico é a noção de "povo deicida", uma acusação de que os judeus foram coletivamente responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Esta ideia foi amplamente difundida na cristandade europeia e serviu de justificação para várias formas de perseguição e discriminação contra os judeus ao longo dos séculos. Esta crença contribuiu para a marginalização dos judeus e para a sua representação como "outros" ou estrangeiros na sociedade cristã.
Na Idade Média, as restrições impostas aos judeus nas esferas profissional e social tiveram um impacto significativo no seu lugar na sociedade. Devido às leis e restrições da Igreja, os judeus eram frequentemente impedidos de possuir terras ou de exercer determinadas profissões. Por exemplo, em muitas regiões, não podiam ser membros de corporações, o que limitava as suas oportunidades no comércio e no artesanato. Estas restrições levaram muitos judeus a recorrer a profissões como o empréstimo de dinheiro, uma atividade frequentemente proibida aos cristãos devido à proibição da usura pela Igreja. Embora esta atividade constituísse um nicho económico necessário, também reforçava certos estereótipos negativos e contribuía para o antissemitismo económico. Os judeus eram por vezes vistos como usurários e associados à avareza, o que exacerbava a desconfiança e a hostilidade para com eles. Além disso, os judeus eram frequentemente confinados a bairros específicos, conhecidos como guetos, o que limitava a sua interação com a população cristã e reforçava o seu isolamento. Esta segregação, combinada com o antissemitismo religioso e económico, criou um ambiente propício à ocorrência de perseguições, como os pogroms. O antissemitismo medieval, enraizado nas crenças religiosas e reforçado pelas estruturas socioeconómicas, lançou assim as bases para séculos de discriminação e perseguição dos judeus na Europa. Esta história dolorosa foi um dos factores que alimentou as aspirações sionistas a um lar nacional seguro e soberano.
A evolução do antissemitismo no século XIX representa um ponto de viragem significativo, quando o preconceito e a discriminação contra os judeus começaram a basear-se mais em noções raciais do que em diferenças religiosas ou culturais. Esta mudança marcou o nascimento do que é conhecido como antissemitismo "moderno", que lançou as bases ideológicas do antissemitismo do século XX, incluindo o Holocausto. No período pré-moderno, o antissemitismo radicava sobretudo em diferenças religiosas, com acusações de deicídio e estereótipos negativos associados aos judeus enquanto grupo religioso. No entanto, com o Iluminismo e a emancipação dos judeus em muitos países europeus no século XIX, o antissemitismo começou a assumir uma nova forma. Esta forma "moderna" de antissemitismo caracterizava-se pela crença na existência de raças distintas com características biológicas e morais inerentes. Os judeus eram vistos não só como uma comunidade religiosa distinta, mas também como uma "raça" separada, com traços hereditários e supostos comportamentos que os tornavam diferentes e, aos olhos dos anti-semitas, inferiores ou perigosos para a sociedade.
Esta ideologia racial foi reforçada por várias teorias e escritos pseudocientíficos, incluindo os de figuras como Houston Stewart Chamberlain, um influente teórico racial cujas ideias contribuíram para a teoria racial nazi. O antissemitismo racial encontrou a sua expressão mais extrema na ideologia nazi, que utilizou teorias racistas para justificar a perseguição sistemática e o extermínio dos judeus durante o Holocausto. A transição do antissemitismo religioso para o antissemitismo racial no século XIX foi, portanto, um desenvolvimento crucial, alimentando formas mais intensas e sistemáticas de discriminação e perseguição contra os judeus. Esta evolução contribuiu igualmente para a urgência sentida pelo movimento sionista na criação de um Estado-nação judaico, onde os judeus pudessem viver em segurança e estar livres de tais perseguições.
O movimento sionista e a colonização da Palestina[modifier | modifier le wikicode]
O final do século XIX foi um período crucial para o povo judeu e marcou um ponto de viragem decisivo na história do sionismo, um movimento que acabaria por conduzir à criação do Estado de Israel. Este período caracterizou-se por uma combinação de resposta à perseguição antissemita na Europa e por um desejo crescente de autodeterminação e de regresso à sua pátria ancestral. O movimento Hovevei Zion (Amantes de Sião) desempenhou um papel fundamental nas primeiras fases do sionismo. Formado principalmente por judeus da Europa de Leste, este movimento tinha por objetivo incentivar a imigração judaica para a Palestina e estabelecer uma base para a comunidade judaica na região. Inspirados pelos pogroms e pela discriminação na Rússia e noutros locais, os membros do Hovevei Zion implementaram projectos agrícolas e de colonização, lançando as bases para a renovação judaica na Palestina. No entanto, foi o primeiro Congresso Sionista, organizado por Theodor Herzl em 1897, em Basileia, na Suíça, que constituiu um marco histórico. Herzl, um jornalista austro-húngaro profundamente afetado pelo antissemitismo que observara, em especial durante o caso Dreyfus, em França, compreendeu a necessidade de um lar nacional judaico. O Congresso de Basileia reuniu delegados judeus de vários países e serviu de plataforma para articular e propagar a ideia sionista. O resultado mais notável do Congresso foi a formulação do Programa de Basileia, que apelava à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O Congresso levou também à criação da Organização Sionista Mundial, encarregada de promover o objetivo sionista. Sob a liderança de Herzl, o movimento sionista ganhou legitimidade e apoio internacional, apesar dos desafios e controvérsias. A visão de Herzl, embora largamente simbólica na altura, proporcionou um enquadramento e uma direção para as aspirações judaicas, transformando uma ideia num movimento político tangível. O período do final do século XIX foi fundamental para a formação do movimento sionista e preparou o terreno para os acontecimentos futuros que conduziriam à criação do Estado de Israel. Reflecte um período em que os desafios históricos enfrentados pelos judeus na Europa convergiram com um desejo renovado de autodeterminação, moldando o curso da história judaica e do Médio Oriente.
O início do século XX foi um período significativo de desenvolvimento e transformação para a comunidade judaica na Palestina, marcado por um aumento da imigração judaica e pela criação de novas estruturas sociais e urbanas. Entre 1903 e 1914, período conhecido como a "Segunda Aliyah", cerca de 30.000 judeus, principalmente do Império Russo, imigraram para a Palestina. Esta vaga de imigração foi motivada por uma combinação de factores, incluindo a perseguição antissemita no Império Russo e a aspiração sionista de estabelecer um lar nacional judeu. Neste período, foi criada a cidade de Telavive em 1909, que se tornou um símbolo da renovação judaica e do sionismo. Telavive foi concebida como uma cidade moderna, planeada desde o início para ser um centro urbano para a crescente comunidade judaica. Um dos desenvolvimentos mais inovadores deste período foi a criação dos kibutzim. Os kibutzim eram comunidades agrícolas baseadas nos princípios da propriedade colectiva e do trabalho comunitário. Desempenharam um papel crucial na colonização judaica na Palestina, proporcionando não só um meio de subsistência, mas também contribuindo para a defesa e segurança das comunidades judaicas. A sua importância foi além da agricultura, pois serviram como centros de cultura, educação e sionismo social.
O período entre 1921 e 1931 assistiu a uma nova vaga de imigração, conhecida como a "Terceira Aliyah", durante a qual chegaram à Palestina cerca de 150.000 judeus. Este aumento significativo da população judaica foi parcialmente estimulado pelo aumento do antissemitismo na Europa, particularmente na Polónia e na Rússia, e pelas políticas britânicas na Palestina. Estes imigrantes trouxeram consigo uma variedade de competências, contribuindo para o desenvolvimento económico e social da região. A imigração judaica durante este período foi um fator-chave na configuração demográfica da Palestina, conduzindo a mudanças sociais e económicas substanciais. Também exacerbou as tensões com as comunidades árabes palestinianas, que viam esta imigração crescente como uma ameaça às suas reivindicações territoriais e demográficas. Estas tensões acabaram por se agravar, dando origem a conflitos e agitação nos anos e décadas seguintes.
O período que se seguiu à Declaração Balfour, em 1917, foi marcado por um aumento significativo das tensões e dos conflitos entre as comunidades judaica e árabe na Palestina. A Declaração, que exprimia o apoio do governo britânico ao estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu, foi acolhida com entusiasmo por muitos judeus, mas provocou oposição e animosidade entre a população árabe palestiniana. Estas tensões manifestaram-se numa série de confrontos e violência entre as duas comunidades. As décadas de 1920 e 1930 assistiram a vários episódios de violência, incluindo motins e massacres, em que ambas as partes sofreram baixas. Estes incidentes reflectiam as crescentes tensões nacionalistas de ambos os lados e a luta pelo controlo e pelo futuro da Palestina.
Em resposta a estas tensões crescentes e à necessidade sentida de se defenderem de ataques, a comunidade judaica da Palestina formou o Haganah em 1920. O Haganah, que significa "defesa" em hebraico, era inicialmente uma organização clandestina de defesa destinada a proteger as comunidades judaicas dos ataques árabes. Foi fundada por um grupo de representantes de povoações judaicas e de organizações sionistas em resposta aos motins de Jerusalém de 1920. Com o tempo, a Haganah evoluiu de uma força de defesa local para uma organização militar mais estruturada. Embora essencialmente defensiva nos seus primeiros anos, a Haganah desenvolveu uma capacidade militar mais robusta, incluindo a formação de forças de elite e a aquisição de armas, em antecipação de um conflito mais alargado com as comunidades árabes e os países vizinhos. A formação do Haganah foi um acontecimento crucial na história do movimento sionista e desempenhou um papel importante nos acontecimentos que levaram à criação do Estado de Israel em 1948. O Haganah constituiu o núcleo do que viria a ser as Forças de Defesa de Israel (IDF), o exército oficial do Estado de Israel.
A colaboração dos círculos sionistas com as potências mandatárias, em especial a Grã-Bretanha, que tinha recebido da Sociedade das Nações o mandato de governar a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, desempenhou um papel importante no desenvolvimento do conflito israelo-palestiniano. Esta cooperação foi crucial para o progresso do movimento sionista, mas também alimentou as tensões e a raiva da população árabe palestiniana. A relação entre os sionistas e as autoridades britânicas era complexa e, por vezes, conflituosa, mas os sionistas procuraram utilizar essa relação para promover os seus objectivos na Palestina. Os esforços sionistas para estabelecer um lar nacional judeu eram frequentemente vistos pelos árabes palestinianos como sendo apoiados, ou pelo menos tolerados, pelos britânicos, o que exacerbava as tensões e a desconfiança.
Um aspeto importante da estratégia sionista durante o período do Mandato foi a compra de terras na Palestina. A Agência Judaica, criada em 1929, desempenhou um papel fundamental nesta estratégia. A Agência Judaica era uma organização que representava a comunidade judaica junto das autoridades britânicas e coordenava os vários aspectos do projeto sionista na Palestina, incluindo a imigração, a construção de colonatos, a educação e, fundamentalmente, a aquisição de terras. A aquisição de terras pelos judeus na Palestina foi uma das principais fontes de conflito, uma vez que conduziu frequentemente à deslocação das populações árabes locais. Os árabes palestinianos viam a aquisição de terras e a imigração judaica como uma ameaça à sua presença e ao seu futuro na região. Estes negócios de terras não só alteraram a composição demográfica e a paisagem da Palestina, como também contribuíram para a intensificação do sentimento nacionalista entre os árabes palestinianos.
O ano de 1937 marcou um ponto de viragem na gestão britânica do Mandato da Palestina e revelou os primeiros sinais de retirada britânica face à escalada de tensões e violência entre as comunidades judaica e árabe. A complexidade e a intensidade do conflito israelo-palestiniano desafiaram os esforços britânicos para manter a paz e a ordem, levando a um reconhecimento crescente da impossibilidade de satisfazer tanto as aspirações sionistas como as exigências dos árabes palestinianos.
Em 1937, a Comissão Peel, uma comissão de inquérito britânica, publicou o seu relatório recomendando, pela primeira vez, a divisão da Palestina em dois Estados separados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controlo internacional. Esta proposta foi uma resposta à escalada de violência, em especial durante a Grande Revolta Árabe de 1936-1939, uma insurreição em massa dos árabes palestinianos contra o domínio britânico e a imigração judaica. O plano de partilha proposto pela Comissão Peel foi rejeitado por ambas as partes por diversas razões. Os líderes árabes palestinianos rejeitaram o plano porque implicava o reconhecimento de um Estado judeu na Palestina. Por outro lado, embora alguns líderes sionistas vissem o plano como um passo em direção a um Estado judeu maior, outros rejeitaram-no porque não correspondia às suas expectativas territoriais.
Este período foi também marcado pelo aparecimento de grupos extremistas de ambos os lados. Do lado judeu, grupos como o Irgun e o Lehi (também conhecido por Stern Gang) começaram a levar a cabo operações militares contra os árabes palestinianos e os britânicos, incluindo bombardeamentos. Estes grupos adoptaram uma abordagem mais militante do que a Haganah, a principal organização de defesa da comunidade judaica, na prossecução do objetivo sionista. Do lado árabe, a violência também se intensificou, com ataques a judeus e a interesses britânicos. A revolta árabe foi um sinal da crescente oposição à política britânica e à imigração judaica. A incapacidade da Grã-Bretanha para resolver o conflito e as reacções extremistas de ambos os lados criaram um clima cada vez mais instável e violento, lançando as bases para futuros conflitos e complicando ainda mais os esforços para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a questão da Palestina.
== Plano de Partilha das Nações Unidas e Guerra da Independência == Em 1947, perante a escalada contínua das tensões e da violência na Palestina obrigatória, as Nações Unidas propuseram um novo plano de partilha, numa tentativa de resolver o conflito israelo-palestiniano. Este plano, recomendado pela Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, previa a divisão da Palestina em dois Estados independentes, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sob um regime internacional especial. De acordo com o plano de partilha da ONU, a Palestina seria dividida de forma a que cada Estado tivesse a maioria da sua população. A área de Jerusalém, incluindo Belém, seria estabelecida como um corpus separatum sob administração internacional, devido à sua importância religiosa e histórica para judeus, cristãos e muçulmanos. No entanto, o plano de partilha da ONU foi rejeitado pela maioria dos líderes e povos árabes. Os árabes palestinianos e os Estados árabes vizinhos consideraram que o plano não respeitava as suas reivindicações nacionais e territoriais e que era injusto em termos de distribuição de terras, uma vez que a população judaica era então uma minoria na Palestina. Consideravam o plano como uma continuação da política pró-sionista das potências ocidentais e como uma violação do seu direito à autodeterminação.
A comunidade judaica na Palestina, representada pela Agência Judaica, aceitou o plano, considerando-o como uma oportunidade histórica para a criação de um Estado judaico. Para os judeus, o plano representava o reconhecimento internacional das suas aspirações nacionais e um passo crucial para a independência. A rejeição do plano de partilha pelos árabes levou a uma intensificação dos conflitos e confrontos na região. O período que se seguiu foi marcado por uma escalada de violência, que culminou na guerra de 1948, também conhecida como a Guerra da Independência de Israel ou a Nakba (catástrofe) para os palestinianos. Esta guerra levou à criação do Estado de Israel, em maio de 1948, e à deslocação de centenas de milhares de palestinianos, marcando o início de um conflito prolongado que se prolonga até aos dias de hoje.
A declaração de independência do Estado de Israel, em maio de 1948, e os acontecimentos que se lhe seguiram representam um capítulo crucial da história do Médio Oriente, com importantes repercussões políticas, sociais e militares. O fim do mandato britânico na Palestina criou um vazio político que os líderes judeus, liderados por David Ben-Gurion, procuraram preencher com a proclamação da independência de Israel. Esta declaração, feita em resposta ao plano de partilha das Nações Unidas de 1947, marcou a concretização das aspirações sionistas, mas foi também o catalisador de um grande conflito armado na região. A intervenção militar dos países árabes vizinhos, incluindo a Transjordânia, o Egipto e a Síria, teve por objetivo impedir a criação do Estado judaico e apoiar as reivindicações dos palestinianos árabes. Estes países, unidos pela sua oposição à criação de Israel, planeavam eliminar o Estado nascente e redefinir a geografia política da Palestina. No entanto, apesar da sua superioridade numérica inicial, as forças árabes foram gradualmente empurradas para trás por um exército israelita cada vez mais organizado e eficaz.
O apoio indireto da União Soviética a Israel, principalmente sob a forma de fornecimento de armas através dos países satélites da Europa Oriental, contribuiu para inverter o equilíbrio de forças no terreno. Este apoio soviético foi motivado menos pelo afeto a Israel do que pelo desejo de diminuir a influência britânica na região, no contexto da rivalidade crescente da Guerra Fria. A série de acordos de cessar-fogo que pôs fim à guerra em 1949 deixou Israel com um território substancialmente maior do que o atribuído pelo plano de partilha da ONU. A guerra teve consequências profundamente trágicas, incluindo a deslocação em massa de palestinianos árabes, que deu origem a questões de refugiados e de direitos que continuam a assombrar o processo de paz. A Guerra da Independência também solidificou a posição de Israel como ator central na região, marcando o início de um conflito israelo-árabe que persiste até aos dias de hoje.
A Guerra dos Seis Dias, que teve lugar em junho de 1967, foi outro momento decisivo na história do conflito israelo-árabe. Este conflito, que opôs Israel ao Egipto, à Jordânia, à Síria e, em menor escala, ao Líbano, conduziu a importantes mudanças geopolíticas na região. A guerra começou em 5 de junho de 1967, quando Israel, perante o que considerava ser uma ameaça iminente dos exércitos árabes alinhados nas suas fronteiras, lançou uma série de ataques aéreos preventivos contra o Egipto. Estes ataques destruíram rapidamente a maior parte da força aérea egípcia no terreno, dando a Israel uma vantagem aérea crucial. Nos dias que se seguiram, Israel alargou as suas operações militares contra a Jordânia e a Síria. O conflito desenrolou-se rapidamente, com vitórias israelitas em várias frentes. Em seis dias de intensos combates, Israel conseguiu capturar a Faixa de Gaza e a Península do Sinai do Egipto, a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) da Jordânia e os Montes Golan da Síria. Estas conquistas territoriais triplicaram a dimensão do território sob controlo israelita. A Guerra dos Seis Dias teve consequências profundas e duradouras para a região. Marcou um ponto de viragem no conflito israelo-árabe, reforçando a posição militar e estratégica de Israel e exacerbando as tensões com os seus vizinhos árabes. A guerra teve também implicações significativas para a população palestiniana, uma vez que a ocupação israelita da Cisjordânia e da Faixa de Gaza colocou novas dinâmicas e desafios à questão palestiniana. Além disso, a perda da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e dos Montes Golã constituiu um rude golpe para os países árabes envolvidos, em especial o Egipto e a Síria, e contribuiu para um clima de desilusão e desespero entre os árabes. A guerra também lançou as bases para futuros conflitos e negociações, incluindo os esforços para um processo de paz duradouro entre Israel e os seus vizinhos.
A Guerra do Yom Kippur e os Acordos de Camp David[modifier | modifier le wikicode]
A Guerra do Yom Kippur, que eclodiu em outubro de 1973, foi um marco crucial na história do conflito israelo-árabe. A guerra, desencadeada por um ataque surpresa conjunto do Egipto e da Síria contra Israel, teve lugar no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, o que acentuou o seu impacto psicológico na população israelita. O ataque egípcio e sírio foi uma tentativa de reconquistar os territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias em 1967, em particular a Península do Sinai e os Montes Golã. A guerra começou com êxitos significativos para as forças egípcias e sírias, desafiando a perceção da supremacia militar israelita. No entanto, Israel, sob a liderança do Primeiro-Ministro Golda Meir e do Ministro da Defesa Moshe Dayan, mobilizou rapidamente as suas forças para uma contraofensiva eficaz.
Esta guerra teve repercussões importantes. A Guerra do Yom Kippur obrigou Israel a reavaliar as suas estratégias militares e de segurança. A surpresa inicial do ataque pôs em evidência as deficiências dos serviços de informação militar israelitas e levou a alterações significativas na doutrina de preparação e defesa de Israel. No plano diplomático, a guerra actuou como catalisador de futuras negociações de paz. As perdas sofridas por ambas as partes abriram caminho para os Acordos de Camp David em 1978, sob a égide do Presidente norte-americano Jimmy Carter, que conduziram ao primeiro tratado de paz israelo-egípcio em 1979. Este tratado constituiu um ponto de viragem, marcando o primeiro reconhecimento de Israel por um país árabe vizinho. A guerra teve também um impacto internacional, nomeadamente ao desencadear a crise petrolífera de 1973. Os países árabes produtores de petróleo utilizaram o petróleo como arma económica para protestar contra o apoio dos EUA a Israel, o que provocou um aumento significativo dos preços do petróleo e repercussões económicas a nível mundial. Por conseguinte, a Guerra do Yom Kippur não só redefiniu as relações israelo-árabes, como também teve consequências a nível mundial, influenciando as políticas energéticas, as relações internacionais e o processo de paz no Médio Oriente. A guerra marcou um passo importante no reconhecimento da complexidade do conflito israelo-árabe e da necessidade de uma abordagem equilibrada para a sua resolução.
Em 1979, um acontecimento histórico marcou um marco importante no processo de paz no Médio Oriente com a assinatura dos Acordos de Camp David, que conduziram ao primeiro tratado de paz entre Israel e um dos seus vizinhos árabes, o Egipto. Estes acordos, negociados sob a égide do Presidente norte-americano Jimmy Carter, foram o fruto de negociações difíceis e ousadas entre o Primeiro-Ministro israelita Menachem Begin e o Presidente egípcio Anwar Sadat. A iniciativa destas negociações surgiu na sequência da Guerra do Yom Kippur de 1973, que pôs em evidência a necessidade urgente de uma solução pacífica para o prolongado conflito israelo-árabe. A decisão corajosa de Anwar Sadat de visitar Jerusalém em 1977 derrubou muitas barreiras políticas e psicológicas, abrindo caminho para um diálogo direto entre Israel e o Egipto.
As conversações de paz, realizadas em Camp David, o retiro presidencial em Maryland, foram marcadas por períodos de intensa negociação, reflectindo as profundas divisões históricas entre Israel e o Egipto. A intervenção pessoal de Jimmy Carter foi fundamental para manter ambas as partes empenhadas no processo e ultrapassar os impasses. Os acordos resultantes incluíam dois quadros distintos. O primeiro acordo lançou as bases para a autonomia palestiniana nos territórios ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, enquanto o segundo acordo conduziu diretamente a um tratado de paz entre o Egipto e Israel. Assinado em março de 1979, este tratado levou à retirada de Israel da Península do Sinai, que ocupava desde 1967, em troca do reconhecimento do Estado de Israel pelo Egipto e do estabelecimento de relações diplomáticas normais.
O tratado de paz israelo-egípcio constituiu um avanço revolucionário, alterando a paisagem política do Médio Oriente. Significou o fim do estado de guerra entre as duas nações e abriu um precedente para futuros esforços de paz na região. No entanto, o tratado também provocou uma oposição feroz no mundo árabe e Sadat foi assassinado em 1981, um ato amplamente visto como uma resposta direta à sua política de aproximação a Israel. Em última análise, os Acordos de Camp David e o tratado de paz que se lhe seguiu demonstraram a possibilidade de negociações pacíficas numa região marcada por conflitos prolongados, salientando simultaneamente os desafios inerentes à obtenção de uma paz duradoura no Médio Oriente. Estes acontecimentos tiveram um impacto profundo não só nas relações israelo-egípcias, mas também na dinâmica regional e internacional.
O direito de regresso dos refugiados palestinianos[modifier | modifier le wikicode]
O direito de regresso dos refugiados palestinianos continua a ser uma questão complexa e controversa no contexto do conflito israelo-palestiniano. Este direito refere-se à possibilidade de os refugiados palestinianos e os seus descendentes regressarem às terras que deixaram ou das quais foram deslocados em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. A Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, adoptada em 11 de dezembro de 1948, afirma que os refugiados que desejem regressar às suas casas devem ser autorizados a fazê-lo e a viver em paz com os seus vizinhos. No entanto, esta resolução, tal como outras resoluções da Assembleia Geral, não tem a capacidade de determinar leis ou estabelecer direitos. Pelo contrário, tem um carácter recomendatório. Por conseguinte, embora tenha sido confirmada em várias ocasiões pelas Nações Unidas, não foi implementada até à data.
A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), criada em 1949, apoia mais de cinco milhões de refugiados palestinianos registados. Contrariamente à Convenção de 1951 sobre os refugiados em geral, a UNRWA inclui também os descendentes dos refugiados de 1948, o que aumenta significativamente o número de pessoas afectadas. Os acordos de paz, como os negociados em Camp David em 1978 ou os Acordos de Oslo de 1993, reconhecem a questão dos refugiados palestinianos como um tema de negociação no âmbito do processo de paz. No entanto, não mencionam explicitamente um "direito de regresso" para os refugiados palestinianos. A resolução do problema dos refugiados é geralmente considerada como uma questão a resolver através de acordos bilaterais entre Israel e os seus vizinhos.